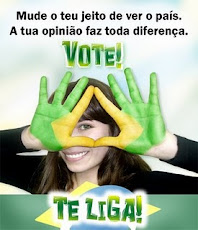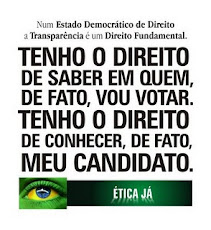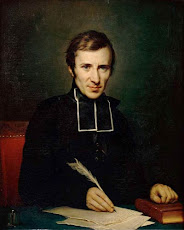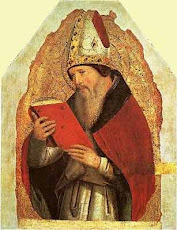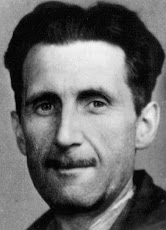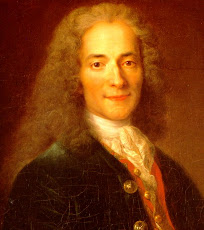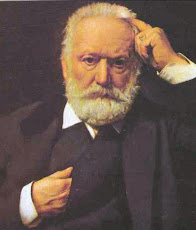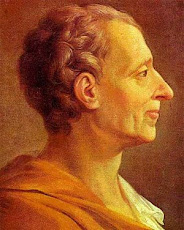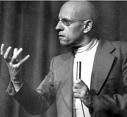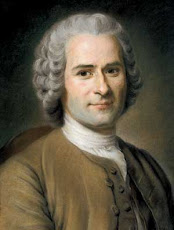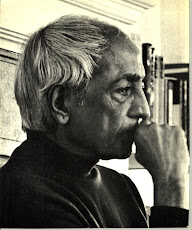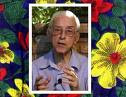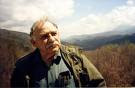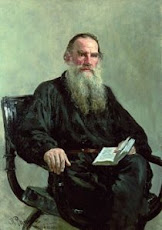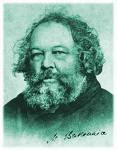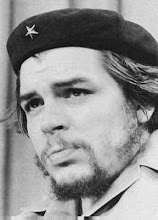“O povo acordou!” ou “não é por centavos, é por
direitos”
Bandeiras negro-rubras participam do protesto
em frente da prefeitura de Porto Alegre. O país foi atravessado pelo
acúmulo do projeto libertário massificado.
Por Bruno Rocha
Nesta edição, dedico-me a analisar a atuação
libertária na jornada de protestos de 2013 que atravessou as capitais e
maiores cidades do país que equivale a um sub-continente
luso-brasileiro. Tais jornadas se nacionalizam partindo da vitória
pontual em Porto Alegre, alastrando uma nova modalidade de luta popular
através do Brasil. Produzo estas palavras a partir dos documentos
publicados pela Coordenação Anarquista Brasiléia (CAB, encontrados no
portal anarkismo.net) e, especificamente, na atuação dentro do Rio
Grande do Sul da Federação Anarquista Gaúcha (FAG). Oriento este texto
pelo âmbito do especifismo por entender que é a versão orgânica de uma
ideologia que expressa sua capacidade política.
O
mais relevante, para além da criminalização sofrida pela CAB no geral e
a FAG em particular; superando as calúnias de sempre exercidas sobre o
anarquismo, o ganho real para o povo brasileiro, no meu ponto de vista,
foi a incorporação de alguns mecanismos básicos de organização social
que estavam, ou esquecidos, ou em dormência profunda. Os setores que
foram para as ruas, quando convocados por alguma instância de
coordenação, tinham nestas coordenações uma fonte de referência e sem
uma liderança cristalizada. Por mais confusão gerada por tais medidas,
no médio prazo isto favorece a ausência de liderança carismática e –
portanto – capital eleitoral. Ao afirmar o sujeito coletivo (povo e
classe) ao invés de alguma elite dirigente, afasta-se o oportunismo e a
luta indireta nas urnas. “O povo acordou!” ou “não é por centavos, é por
direitos” são consignas que vão ao encontro do programa de trabalho do
anarquismo militante, presente em todos os momentos destas jornadas,
desde sua concepção nacional em janeiro de 2005 durante uma das edições
do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, assim como na formação do
Movimento Passe Livre (MPL) em dezenas de cidades do Brasil.
Se recuarmos aos complicados anos ’90 do século XX, recordaremos das
jornadas de Seattle (novembro de 1999, EUA), quando centenas de
movimentos sociais e entidades de base afetadas pelo Acordo de Livre
Comércio da América do Norte (NAFTA) mostraram sua indignação durante a
reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) ali realizada. As
jornadas de protestos brasileiras em 2013 são tributárias destas lutas,
da explosão da internet como forma de auto-organização; das lutas
anti-globalização da virada do século (como as de Gênova e Sevilha); do
papel pioneiro dos Centros de Mídia Independente e, a partir daí, da
ação dos meios de comunicação alternativos.
Em cada uma destas frentes de atuação existe o peso, majoritário ou na composição, tanto da presença física do anarquismo militante como na inspiração de forma e pensamento organizada. E, como já se verificava em distintas partes da América Latina nos últimos quinze anos, a ideologia anarquista extrapola e ultrapassa sua dimensão orgânica (no Brasil, pela CAB) e atravessa a orientação geral dos protestos.
Fonte Estratégia e Análise
Leia mais:
A convocatória para as ruas se massifica quando o convocante é legítimo
Por Bruno Rocha
O dia nacional de luta, convocado para a quinta, 11 de julho, apresentou de forma tardia a presença das centrais sindicais nas jornadas do mês anterior. Particularmente, esperava uma fraca convocatória, e assim foi. Se compararmos capacidades de mobilização, as coordenações pelo transporte público (como os MPLs e o Bloco de Luta) tiveram um apelo dezenas de vezes superiores ao das burocracias à frente de sindicatos. De nada adiantou o Planalto convocar as “lideranças responsáveis”, porque a legitimidade de quem convoca a luta pelo Passe Livre é infinitamente maior que os sindicalistas de carreira. Estamos diante de um modelo esgotado.
Não poder mobilizar quem está no mundo do trabalho é o efeito perverso da visível melhoria nas condições de vida, mas que não foi acompanhado de sindicalização massiva, engajamento político e consciência de classe. O conceito de classe social é nevrálgico para o sindicalismo. Este organiza os setores e categorias do mundo do trabalho, apontando para o antagonismo na sociedade. Como esperar sentido coletivo classista se a maior parte dos dirigentes das centrais e federações há mais de dez anos convive no pacto social através da tal da governabilidade?
Embora os rumos do sindicalismo brasileiro estejam complicados, nem tudo está perdido. O que foi tragicamente atirado pelo ralo é a legitimação dos chamados sindicalistas autênticos, encabeçando o então novo sindicalismo no final da década de ’70. A CUT é fruto das lutas do ABC, confrontando-se com os pelegos do sistema federativo, então apoiados pelos partidos stalinistas. No início do século XXI, durante o primeiro mandato de Lula, pelegos e ex-autênticos se fizeram parceiros nos ministérios, sendo que a pasta do Trabalho e Emprego há muito está com o PDT e Força Sindical. A criação da CTB não se deu por uma tese defendida na luta sindical, mas apenas pelo arranjo político-partidário de PSB e PC do B. Se nas legendas da ex-esquerda está complicado, das centrais que estão à direita da Força some resta lamentar.
A rara exceção sindical, à esquerda, está no acionar de Conlutas e Intersindical (as duas). Infelizmente, a ação legítima não se reflete em unidade sindical, ainda deixando muito espaço de manobra para o governismo. Não adianta mais esconder o óbvio. O sindicalismo brasileiro precisa ser reinventado, afastando-se do modelo oficial de correia de transmissão dos partidos eleitorais, fazendo escola para a politicagem. Do contrário, mais fiascos como o de 11 de julho virão.
Fonte: Estratégia e Análise
Em cada uma destas frentes de atuação existe o peso, majoritário ou na composição, tanto da presença física do anarquismo militante como na inspiração de forma e pensamento organizada. E, como já se verificava em distintas partes da América Latina nos últimos quinze anos, a ideologia anarquista extrapola e ultrapassa sua dimensão orgânica (no Brasil, pela CAB) e atravessa a orientação geral dos protestos.
Fonte Estratégia e Análise
Leia mais:
O sindicalismo oficial é um modelo esgotado
A convocatória para as ruas se massifica quando o convocante é legítimo
Por Bruno Rocha
O dia nacional de luta, convocado para a quinta, 11 de julho, apresentou de forma tardia a presença das centrais sindicais nas jornadas do mês anterior. Particularmente, esperava uma fraca convocatória, e assim foi. Se compararmos capacidades de mobilização, as coordenações pelo transporte público (como os MPLs e o Bloco de Luta) tiveram um apelo dezenas de vezes superiores ao das burocracias à frente de sindicatos. De nada adiantou o Planalto convocar as “lideranças responsáveis”, porque a legitimidade de quem convoca a luta pelo Passe Livre é infinitamente maior que os sindicalistas de carreira. Estamos diante de um modelo esgotado.
Não poder mobilizar quem está no mundo do trabalho é o efeito perverso da visível melhoria nas condições de vida, mas que não foi acompanhado de sindicalização massiva, engajamento político e consciência de classe. O conceito de classe social é nevrálgico para o sindicalismo. Este organiza os setores e categorias do mundo do trabalho, apontando para o antagonismo na sociedade. Como esperar sentido coletivo classista se a maior parte dos dirigentes das centrais e federações há mais de dez anos convive no pacto social através da tal da governabilidade?
Embora os rumos do sindicalismo brasileiro estejam complicados, nem tudo está perdido. O que foi tragicamente atirado pelo ralo é a legitimação dos chamados sindicalistas autênticos, encabeçando o então novo sindicalismo no final da década de ’70. A CUT é fruto das lutas do ABC, confrontando-se com os pelegos do sistema federativo, então apoiados pelos partidos stalinistas. No início do século XXI, durante o primeiro mandato de Lula, pelegos e ex-autênticos se fizeram parceiros nos ministérios, sendo que a pasta do Trabalho e Emprego há muito está com o PDT e Força Sindical. A criação da CTB não se deu por uma tese defendida na luta sindical, mas apenas pelo arranjo político-partidário de PSB e PC do B. Se nas legendas da ex-esquerda está complicado, das centrais que estão à direita da Força some resta lamentar.
A rara exceção sindical, à esquerda, está no acionar de Conlutas e Intersindical (as duas). Infelizmente, a ação legítima não se reflete em unidade sindical, ainda deixando muito espaço de manobra para o governismo. Não adianta mais esconder o óbvio. O sindicalismo brasileiro precisa ser reinventado, afastando-se do modelo oficial de correia de transmissão dos partidos eleitorais, fazendo escola para a politicagem. Do contrário, mais fiascos como o de 11 de julho virão.
Fonte: Estratégia e Análise
Leia mais:
"Anota aí: eu sou ninguém"
Por PETER PÁL PELBART*
Slavoj Zizek reconheceu no "Roda Viva" que é mais fácil saber o que quer uma mulher, brincando com a "boutade" freudiana, do que entender o Occupy Wall Street.
Não é diferente conosco. Em vez de perguntar o que "eles", os manifestantes brasileiros, querem, talvez fosse o caso de perguntar o que a nova cena política pode desencadear. Pois não se trata apenas de um deslocamento de palco --do palácio para a rua--, mas de afeto, de contaminação, de potência coletiva. A imaginação política se destravou e produziu um corte no tempo político.
A melhor maneira de matar um acontecimento que provocou inflexão na sensibilidade coletiva é reinseri-lo no cálculo das causas e efeitos. Tudo será tachado de ingenuidade ou espontaneismo, a menos que dê "resultados concretos".
Como se a vivência de milhões de pessoas ocupando as ruas, afetadas no corpo a corpo por outros milhões, atravessados todos pela energia multitudinária, enfrentando embates concretos com a truculência policial e militar, inventando uma nova coreografia, recusando os carros de som, os líderes, mas ao mesmo tempo acuando o Congresso, colocando de joelhos as prefeituras, embaralhando o roteiro dos partidos --como se tudo isso não fosse "concreto" e não pudesse incitar processos inauditos, instituintes!
Como supor que tal movimentação não reata a multidão com sua capacidade de sondar possibilidades? É um fenômeno de vidência coletiva --enxerga-se o que antes parecia opaco ou impossível.
E a pergunta retorna: afinal, o que quer a multidão? Mais saúde e educação? Ou isso e algo ainda mais radical: um outro modo de pensar a própria relação entre a libido social e o poder, numa chave da horizontalidade, em consonância com a forma mesma dos protestos?
O Movimento Passe Livre, com sua pauta restrita, teve uma sabedoria política inigualável. Soube até como driblar as ciladas policialescas de repórteres que queriam escarafunchar a identidade pessoal de seus membros ("Anota aí: eu sou ninguém", dizia uma militante, com a malícia de Odisseu, mostrando como certa dessubjetivação é condição para a política hoje. Agamben já o dizia, os poderes não sabem o que fazer com a "singularidade qualquer").
Mas quando arrombaram a porteira da rua, muitos outros desejos se manifestaram. Falamos de desejos e não de reivindicações, porque estas podem ser satisfeitas. O desejo coletivo implica imenso prazer em descer à rua, sentir a pulsação multitudinária, cruzar a diversidade de vozes e corpos, sexos e tipos e apreender um "comum" que tem a ver com as redes, com as redes sociais, com a inteligência coletiva.
Tem a ver com a certeza de que o transporte deveria ser um bem comum, assim como o verde da praça Taksim, assim como a água, a terra, a internet, os códigos, os saberes, a cidade, e de que toda espécie de "enclosure" é um atentado às condições da produção contemporânea, que requer cada vez mais o livre compartilhamento do comum.
Tornar cada vez mais comum o que é comum --outrora chamaram isso de comunismo. Um comunismo do desejo. A expressão soa hoje como um atentado ao pudor. Mas é a expropriação do comum pelos mecanismos de poder que ataca e depaupera capilarmente aquilo que é a fonte e a matéria mesma do contemporâneo --a vida (em) comum.
Talvez uma outra subjetividade política e coletiva esteja (re)nascendo, aqui e em outros pontos do planeta, para a qual carecemos de categorias. Mais insurreta, de movimento mais do que de partido, de fluxo mais do que de disciplina, de impulso mais do que de finalidades, com um poder de convocação incomum, sem que isso garanta nada, muito menos que ela se torne o novo sujeito da história.
Mas não se deve subestimar a potência psicopolítica da multidão, que se dá o direito de não saber de antemão tudo o que quer, mesmo quando enxameia o país e ocupa os jardins do palácio, pois suspeita que não temos fórmulas para saciar nosso desejo ou apaziguar nossa aflição.
Como diz Deleuze, falam sempre do futuro da revolução, mas ignoram o devir revolucionário das pessoas.
*PETER PÁL PELBART, 57, filósofo húngaro, é professor titular de filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tradutor de Deleuze e autor de "Vida Capital"
https://www.facebook.com/antoniocavalcantefilho.cavalcante
Visite a pagina do MCCE-MT
www.mcce-mt.org
https://www.facebook.com/antoniocavalcantefilho.cavalcante
Visite a pagina do MCCE-MT
www.mcce-mt.org