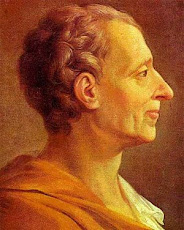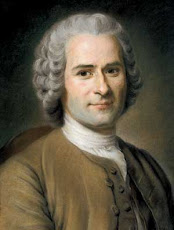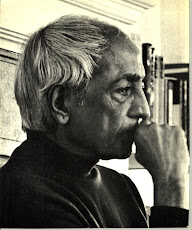Da exploração colonial à era dos Soberanos, aos Impérios e agora ao
mundo das Finanças, dominado pelos EUA. Feito vírus, sistema pilha
países, explora o trabalho e molda a alma humana como mercadoria. Mas
sua lógica central tornou-se obsoleta
Por Luis Eustáquio Soares
1. As mutações viróticas do sistema capitalista
Assim
como o vírus só consegue se reproduzir no interior de células e
depende destas para realizar suas atividades metabólicas,
multiplicando-se, o capitalismo é um sistema cujo metabolismo
socioeconômico se manifesta de forma bastante semelhante ao
metabolismo intracelular virótico, com a diferença fundamental,
porque historicamente constituída, implicada com a realidade
objetiva de que a “célula” que o capitalismo viraliza é o
trabalho, sendo por isso, para citar Marx, de O
capital (1967), que: “O segredo da
autovalorização do capital se resolve no fato de que este pode
dispor de uma determinada quantidade de trabalho alheio não pago”
(MARX, p. 338).
O
capitalismo é, assim, como um vírus que se autovaloriza pelo
metabolismo socioeconômico que ocorre no interior do trabalho
social, alimentando-se deste para reproduzir-se sob a forma de
mais-valor – ou de lucro, juros e renda imobiliária. E mais: o
capitalismo é como a Covid-19; ataca o sistema respiratório dos
trabalhadores a fim de garantir, novamente com Marx de O
capital, “[…] o baixo preço do
sangue e suor humanos, transformados em mercadoria […]” (MARX, O
capital, p.662-664).
O
capitalismo é um parasita que acomete as células do trabalho e
produz no interior destas sua multiplicação virótica sob a forma
de mercadoria. A pandemia do capital é, portanto, esta: produz um
sistema econômico que universaliza as relações mercantis, que são
relações privadas entre “vírus” ou mercadorias, ocultando,
desse modo, as relações sociais efetivas, o que engendra a
alienação geral das “células” do trabalho socialmente
determinado para fabricá-las, as mercadorias-vírus.
Se
o capitalismo é um sistema de relações parasitárias do capital
sobre o trabalho, as mercadorias, que são trabalho socialmente
determinado, nada mais são do que trabalho viralizado, transformado
em propriedade privada. É por isso que o capital pode ser
interpretado como uma pandemia virótica, porque é propriedade
privada no interior daquilo que não tem dono, porque é trabalho
socialmente determinado; dos povos, de todos e de ninguém.
O
que chamamos de capitalismo é o resultado de quatro mutações
pandêmicas no interior do processo de dominação virótica do
capital sobre e contra o trabalho, a saber:1. O sistema colonial; 2.
A emergência da civilização burguesa, com a universalização da
forma-mercadoria; 3. A fase imperialista e inter-imperialista do
capital; 4. O ultraimperialismo estadunidense.
Essa
é a estrutura da civilização burguesa, que deve ser pensada em sua
integralidade, razão suficiente para evidenciar que a fase atual, a
do ultraimperialismo estadunidense, é ao mesmo tempo colonial,
capitalista e inter-imperialista. Cada período é uma força
produtiva própria; e tem como
contraponto uma intensa dialética entre as relações de produção
que se tornaram ultrapassadas e as novas relações de produção,
lastreadas na força produtiva de vanguarda.
Desse
modo, o período pandêmico do colonialismo tornou-se, com o tempo,
um sistema de relações ultrapassado pela emergência do período
propriamente capitalista, baseado na propriedade privada dos meios de
produção, sobretudo tendo em vista o advento das indústrias
modernas, com sua produtividade laboral de escala planetária, que
transformou em pó a produtividade lastreada na cooperação simples
e mesmo na manufatura, predominantes na fase
colonialista-mercantilista.
Sob
esse ponto de vista, as revoluções burguesas, como a francesa (de
1789), por exemplo, podem ser interpretadas como formas de
metabolismos entre as relações de produção ultrapassadas e as de
vanguarda, por estarem em sintonia com as novas forças produtivas,
como as das indústrias modernas. Novas classes sociais emergem e as
anteriores são pressionadas a se adaptar à nova ordem econômica
existente.
As
pandemias do capital são metabolismos entre relações de produção
ultrapassadas e ao mesmo tempo transformadas no interior das novas
formas viróticas intracelulares,
que se reproduzem no interior das novas “células” de
produtividade virótica, porque sob o controle privado do capital. Há
uma dialética entre passado, presente e futuro das relações
sociais de produção. Por exemplo, a cooperação simples, tendo
sido substituída pela manufatura, atua nesta de forma subordinada,
subsumida; assim como a manufatura se relaciona com a indústria
moderna, de forma subsumida.
O
“tudo se transforma”, de Lavoisier, significa, objetivamente o
seguinte, tendo em vista os quatro períodos da civilização
burguesa: tudo é, no processo histórico concreto, objeto de
mutações viróticas, em um sistema em que a divisão internacional
do trabalho é desigual e combinada, o capitalista.
2. As mutações viróticas do capital: a pandemia do sistema colonial
O
sistema colonial-mercantilista foi o primeiro período pandêmico do
capitalismo. Dividiu-se em dois vetores: um interno à história das
civilizações que vieram a desembocar na Idade Média europeia;
outro externo, relativo à expansão colonial. Este, o externo, por
sua vez, divide-se em duas fases históricas: a da expansão colonial
de Portugal e de Espanha; e a expansão das Companhias das Índias
Orientais; a inglesa, fundada em 1600; a holandesa, que iniciou sua
expansão colonial em 1602; e, finalmente, a francesa, fundada em
1664, seguindo os passos genocidas das duas anteriores.
As
dimensões interna e externa do sistema colonial-mercantilista não
ocorreram separadamente e são, como tudo o mais, historicamente
constituídas. Uma e outra são herdeiras de civilizações que se
enriqueceram às custas da expansão territorial e da escravidão e
saqueio dos recursos patrimoniais, culturais, científicos, naturais
de outros povos e regiões, como é o caso do Império Romano, da
Grécia Antiga, do Império Mongol
ou mesmo das conquistas marítimas dos Vikings.
O
conceito de estado de exceção, a propósito, desenvolvido por
Walter Benjamin, no ensaio de 1944, “Sobre o conceito de história”,
é preciso para definir aquilo que pode ser chamado de os precedentes
históricos do período colonial-mercantilista, principalmente
considerando o seguinte fragmento, presente no aforismo oitavo, que
assim se diz: “A tradição do oprimido nos ensina que o estado de
exceção em que vivemos é na verdade regra geral (BENJAMIN, 1994,
p.226).
O
fragmento citado detém duas premissas que precisam ser esclarecidas:
1. Há uma tradição do oprimido; 2. Para mantê-la, há que impor
um estado de exceção como regra geral. No que diz respeito à
primeira, define-se como tradição do oprimido um processo histórico
de larga duração herdeiro de modos de produção estruturados por
relações polares entre as classes; do tipo opressores e oprimidos.
A segunda, por sua vez, refere-se ao fato, mais que evidente, de que
sociedades de tradição de oprimido, para se tornarem factíveis,
precisam instaurar estados de sítio permanentes, pois, sem isso, as
classes oprimidas de forma alguma aceitariam a condição
histórico-social de oprimidas.
Os
modos de produção de tradição do oprimido, antes da emergência
do capitalismo, são: escravista e feudal. O primeiro mais que o
segundo foi fundamentalmente expansionista e belicista, inclusive
porque as guerras de saqueio eram o principal meio de aquisição de
escravos. O segundo, o feudal, até por conta de sua estrutura
produtiva sedentária, de arrendamento da terra, por camponeses,
embora tivesse a tendência a ser menos expansionista, nem por isso
deixara de o ser, na prática, porque, antes de tudo, o processo
de acumulação de riqueza e de poder, em sociedades de tradição do
oprimido, são indissociáveis da expansão territorial e da
espoliação das riquezas produzidas por outros
povos.
No
entanto, há outro aspecto fundamental das sociedades de tradição
do oprimido, qual seja: elas são sociedades de tradição soberana,
pela razão simples de que, havendo uma tradição de oprimido,
haverá igualmente uma tradição de opressores e, assim, de
soberanos que oprimem. A época colonial funcionou como uma
encruzilhada histórica que amalgamou todos os aspectos
político-econômicos da tradição do oprimido: 1. A figura do
soberano, que açambarca excedentes internos e externos; 2. A figura
do oprimido, interna e externa.
2.1.
A figura do soberano do sistema colonial-mercantilista
O
soberano do período colonialista-mercantilista é uma interface da
acumulação primitiva do capital e é o resultado
histórico-produtivo do materialismo dialético entre a dimensão
interna e externa do sistema colonial. Um exemplo desse argumento
pode ser encontrado no livro Formação
histórica do Brasil (1962),
de Nelson Werneck Sodré,
especialmente no capítulo intitulado “O acidente da colonização”,
em que a questão de como colonizar o Brasil, fora equacionada, pela
coroa portuguesa do período, por meio da proposta das Capitanias
Hereditárias, com seus donatários; superestrutura estatal que
reproduzia o modo de produção feudal e que fora criada para
administrar e explorar o trabalho escravo, escolhido, por razões
objetivas e mercantilistas (ausência de mão
de obra e o mercado de tráfico
negreiro).
Essa
estrutura feudal lastreada no trabalho escravo projetado pela
monarquia portuguesa evidencia como o fator interno do sistema
colonialista, a retomada de relações de produção dos modos de
produção escravista e feudal, assim como dimensão externa, a da
empresa marítima expansionista, sofreram mutações importantes no
período colonial.
Essas
mutações definem o soberano do modo de produção colonial como
soberano ou superestrutura estatal que decide o estado de exceção
expandindo-se pelo planeta, atualizando relações escravistas e
feudais de produção.
2.2.
A figura interna e externa do oprimido
A
tradição do oprimido é também uma tradição do opressor, do
soberano, de modo que há sempre uma dialética entre essas figuras
das sociedades polarizadas. No entanto, o perfil de ambos jamais deve
ser pensado como uma questão de escolha, seja de um lado ou de
outro. Para dialogar com o livro 18
de Brumário de Luis Bonaparte (1852),
de Marx: “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem
como querem; não a fazem sob a circunstância de sua escolha e sim
sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas
pelo passado” (MARX, 2002, p.6).
O
perfil do oprimido da fase colonial da expansão civilizacional
burguesa é híbrido e está marcado pelo processo de acumulação
primitiva do capital, em seus dois vetores, o interno e o externo. No
primeiro, é o camponês da sociedade feudal que é objeto de intensa
espoliação, de modo a se transformar gradativa e literalmente em um
desterrado, sem instrumentos de produção. O camponês do modo
feudal de produção será, assim, o futuro operário da fase
capitalista, definido como ‘trabalhador livre’ para ser
explorado, porque não detém meio de produção algum.
Sob
o ponto de vista externo, o oprimido do período colonial da
civilização burguesa se divide em: 1. Naquelas civilizações
milenares, como a chinesa e a indiana, nas quais os modos de produção
predominantes eram feudais, pelo menos na fase mercantilista
espanhola e portuguesa, fundamentalmente pouco muda; continuará
sendo camponês de uma estrutura de produção feudal; 2. Naquelas
civilizações em que predomina o modo de produção do comunismo
primitivo, o oprimido será ou dizimado, como foi o caso dos
indígenas nas Américas, ou transformado em trabalho escravo, como
ocorreu com os africanos.
O
comércio do tráfico negreiro, que se tornou extremamente lucrativo,
adveio como consequência do genocídio indígena. O período
colonial, assim, produziu o fenômeno da escravidão baseada na cor
da pele, como a negra. Essa é certamente uma de suas heranças mais
nefastas e que produziu, em uma sociedade como a brasileira, uma
superestrutura estatal tendencialmente escravista e extremamente
preconceituosa.
2.2.3.
O DNA/RNA da pandemia da fase colonial da civilização burguesa
Diferentemente
dos precedentes modos de produção de tradição do oprimido, o
escravista e o feudal, o primeiro período da estrutura pandêmica da
civilização burguesa pode ser analisado como se fosse um vírus.
Assim como este é um organismo acelular encapsulado por proteínas
de DNA e/ou RNA, o período colonial funcionou como uma “cápsula
acelular de DNA/RNA” da estrutura das quatro fases citadas do
capitalismo, razão suficiente para não acatar o seguinte trecho de
ensaio de Lênin, escrito em 1914, a saber: “Impõe-se
a distinção entre a acumulação do capital na base do capitalismo
e a chamada acumulação primitiva, quando se desapossa violentamente
o trabalhador dos meios de produção, se expulsa o camponês das
suas terras, se roubam as terras comunais, e imperam o sistema
colonial e o sistema das dívidas públicas, as tarifas alfandegárias
protecionistas, etc”. (LÊNIN, 1946,
p. 29).
O
sistema feudal não precedeu, como afirmou Lênin, no trecho citado,
o modo de produção capitalista, pois é parte fundamental deste
último; sua “proteína de DNA/RNA”, seja no que diz respeito ao
seu fator interno, de ruína do modo de produção precedente, seja
no que toca ao expansionismo territorial e, assim, ao saqueio de
povos e seus recursos, questão que está presente no Manifesto
Comunista (de 1848), tendo em vista
o seguinte recorte:
A
sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade
feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que
estabelecer novas classes, novas condições de opressão,
novas formas de luta em lugar das que existiram no passado […]. A
descoberta da América e a circum-navegação da África abriram novo
campo de ação à burguesia emergente (MARX; ENGELS, 2016, p.
40-41).
Como
a questão em tela é de Economia Política, de forma alguma se
pretende confundir o período mercantilista-colonialista com o
capitalista. São modos de produção distintos, o mercantilismo e o
capitalismo. O primeiro é baseado no capital comercial e usurário;
o segundo, no capital industrial, na propriedade privada dos meios de
produção e na universalização das relações mercantis.
No
entanto, o argumento a ser defendido neste ensaio é: a “cápsula
de DNA/ RNA” do sistema colonial, sua forma de ser vírus, de se
multiplicar, estava diretamente relacionada ao saqueio do modo de
produção precedente, a partir da expansão marítima-mercantilista.
Essa
lógica, imanente ao sistema colonial, embora tenha sofrido mutações
objetivas, foi replicada no modo de produção capitalista, tendo em
vista a dialética entre as forças produtivas ascendentes e relações
de produção descendentes; dialética que pressupõe que as
primeiras, tendencialmente, transformam as segundas em objeto de
acumulação primitiva do capital, como foi o caso do modelo
econômico-social da colonização portuguesa no Brasil, amálgama de
relações de produção feudal e escravista.
O
capitalismo é acumulação primitiva transversal, econômica. De
qualquer forma, o importante é não compartimentar, separando os
modos de produção colonial do capitalista. Embora sejam distintos,
fazem parte de uma estrutura, a estrutura histórico-material da
civilização burguesa, com suas quatro epidemias interconectadas: a
colonial, a capitalista, a inter-imperialista, a do ultraimperialismo
estadunidense.
3. O modo de produção capitalista colonial
A
primeira mutação do “vírus” do capital é, assim: a da
transformação virótica do sistema colonial em sistema colonial
capitalista, amalgamados. Dessa forma, agora em pleno acordo com
Lênin, “A acumulação primitiva criou, em um polo, o proletário
‘livre’, no outro, o detentor do dinheiro, o capitalista”
(LÊNIN, 1946, p. 29).
Por
outro lado, porque a mutação pandêmica do capital tem duas vias, a
da permanência do passado no presente e a da autonomia do presente
em relação ao passado, a questão que se apresenta torna-se: como o
capitalismo, que é um modo de coerção econômica, retoma os modos
de coerção extraeconômicos do sistema colonial, amalgamando-os?
Antes
de responder a essa questão, é preciso perguntar: o que é o
capitalismo? A fórmula do capitalismo
é: C + V= M, onde C é o capital constante, o V é o capital
variável e o M é a mercadoria. O capital constante é constituído
pela infraestrutura do capital, definida pela indústria em si, seu
prédio, seu maquinário, seus robôs, matéria prima e, no contexto
social, pelo conjunto da infraestrutura social existente, como
estradas, logística de distribuição, escolas, instituições de
modo geral. O capital variável é o trabalhador, o operário
contratado para fabricar mercadoria. M, para ser redundante, é o que
o trabalhador produz, a mercadoria.
O
processo de acumulação de capital só se realiza com a venda da
mercadoria e com a constituição do lucro. O que Marx mostrou de
forma científica e desmistificadora foi que o mais-valor não é
retirado do capital constante, mas do capital variável. Isto é: do
trabalhador. Este tem que trabalhar mais do que é necessário para
produzir a mercadoria e esse sobretrabalho socialmente determinado é
o lucro do capitalismo.
No
entanto, como argumentou Rosa Luxemburgo, no livro A
acumulação de capital (1913), o
capitalismo nunca funcionou de forma autônoma, sustentado por suas
categorias imanentes, como capital constante, capital variável e
mais-valor, não sendo por acaso que tenha escrito o seguinte
fragmento sobre o processo de acumulação do capital, em diálogo
crítico com O capital,
de Marx: “Só que é perfeitamente
legítimo, como recurso teórico, quando não altera as condições
do problema mesmo, ajudando a expô-lo com objetividade. Tal ocorre
na análise da produção simples do capital social total”
(LUXEMBURGO, 1967, p. 266).
No
trecho citado, Rosa Luxemburgo dissera que Marx realizara uma análise
científica do processo simples de acumulação total do capital
social, mas destacara: “quando não altera as condições do
problema”. De qual problema? O problema do processo de acumulação
ampliada do capital, que apenas se efetiva por meio do mercado
externo, traduzido como o saqueio permanente dos povos e, assim, como
eterno retorno do DNA/RNA das relações de produção feudal e
escravista.
Em
diálogo com Rosa Luxemburgo, o capitalismo é um modo de
produção/coerção econômica, mas que, para existir, necessita da
figura do soberano, pois, sendo o estado de exceção a regra geral,
na tradição do oprimido, “o soberano
é aquele que decide sobre o estado de exceção (SCHMITT, 2009, p.
15). Nesse caso, é o que decide o estado de exceção capitalista,
retomando e atualizando sem cessar as formas feudais e escravistas de
exploração do trabalho.
4. A pandemia do modo de produção capitalista inter-imperialista
Se é verdade que o capitalismo é um modo de produção da tradição do oprimido cuja coerção soberana é objetivamente econômica (capital versus trabalho), então não é menos verdade, novamente com Rosa Luxemburgo, que seja também subjetivamente determinado, definindo como subjetivo, aqui, a decisão política soberana, que decide o estado de exceção contra os povos, por meio de golpes e guerras.
Uma
breve observação dos períodos de existência das Companhias
Marítimas das Índias Orientais pode nos revelar muita coisa a
respeito do argumento precedente. A sua versão francesa, durou de
1664 a 1769; a holandesa, de 1602 a 1779; e a inglesa de 1600 a 1874.
O argumento a ser defendido a respeito é: até 1874, data do fim da
Companhia Inglesa Marítima das Índias Orientais, o estado de
exceção capitalista era fundamentalmente colonial, pois sem o
sistema colonial a civilização burguesa não teria se constituído
nos países mencionados.
Porque
foi o país que protagonizou o capitalismo, a atuação
colonialista-capitalista inglesa emergiu antecipando o processo de
colonização no interior da Idade Média. A respeito, como destacou
Engels (s/d, p. 318), em carta enviada a Marx em 10 de dezembro de
1869: “Sob pretexto de restabelecer o trono ao rei Dermot, em 1771
desembarcou na Irlanda um exército de conquistador do rei da
Inglaterra, Henrique II, que conseguira que a nobreza irlandesa o
nomeasse como ‘o senhor do país’”. Depois disso, Irlanda
tornou-se a primeira e a mais longa colônia do processo de formação
do capitalismo e imperialismo ingleses, tendo sofrido as
consequências trágicas dessa submissão
colonial-capitalista-imperialista até os dias atuais.
Em artigo publicado em 24 de junho de 1853, no periódico estadunidense New York Daily Tribune,
Marx (s/d. p. 48) enumerou uma série de guerras que a Companhia Inglesa
das Índias Orientais realizara contra a Companhia Francesa das Índias
Orientais, em diferentes regiões da Índia, disputando com o capitalismo
colonial francês o domínio das colônias, como a guerra de Karnatic, no
sudoeste indiano, iniciada em 1746, durando até 1763; a guerra pela
disputa de Bengala, em que os franceses, procurando evitar que os
ingleses se apossassem de suas colônias, apoderaram-se de Calcutá, praça
forte do domínio inglês na Índia.
No
caso da China também não foi diferente. Exemplo disso foram as duas
Guerras do Ópio, levadas a cabo pela Inglaterra, tendo a primeira
durado de 1839 a 1842, quando os ingleses sequestraram a ilha de
Hong-Gong, em agosto de 1842, problema que persiste até atualidade,
bastando considerar a recente Revolução Colorida de Hong-Kong, do
ano passado (2019). A segunda, por sua vez, já com a participação
dos franceses, norte-americanos e russos, com o propósito de
derrotar a Dinastia Ching, durou de 1856 a 1860.
Ambas
as guerras mataram milhões de chineses, sem contar a Guerra de
Taiping (1851-1864), em que a Inglaterra, tendo estimulado um
conflito religioso na região chinesa de
Guangxi, levou a cabo um dos conflitos mais violentos da história da
humanidade – que teve motivo religioso como pretexto, depois de
estimular e financiar a colonização de missionários cristãos no
interior da China.
Um
dos objetivos dessas guerras de saqueio colonial e de inserção nas
colônias de relações capitalistas de produção) é enfraquecer e
mesmo eliminar a memória histórica de poder de um povo; memória
econômica, cultural, política, administrativa, mesmo considerando
processos de poder autárquicos, corruptos e feudais, como o da
Dinastia Ching, na China. A palavra de ordem das guerras coloniais,
no período da Companhia Inglesa das Índias Orientais, foi: é
proibido ter memória histórica. Resulta daí o ataque permanente à
estrutura administrativa do Estado, inclusive com a indicação de
interventores imunes à estrutura legal do país invadido.
Diferente
não foi o destino da América Latina, sob o jugo inglês, tendo em
vista, por exemplo, a extrema crueldade usada pelos ingleses para
debelar a rebelião negra em Jamaica, ocorrida em outubro de 1865,
situação que se estendeu por toda a América Latina, embora o
destaque, aqui, caiba à Guerra do Paraguai – uma guerra por
procuração, em que a chamada Tripla Aliança (com Brasil, Argentina
e Uruguai), a serviço da Inglaterra, dizimou o projeto
independentista de Francisco Solano López.
Três
observações a respeito dos argumentos precedentes são necessárias:
1. Não raro, sobretudo Inglaterra e França (acompanhadas de países
como Espanha, Rússia, Estados Unidos, dentre outros), do século
XVII ao XIX, realizaram guerras, golpes e intervieram em conflitos,
de forma simultânea, em diferentes regiões do planeta; 2. O
capitalismo não seria possível, para usar uma linguagem de Rosa
Luxemburgo, sem esse “mercado externo” a ser aberto com a
pandemia colonial; 3. Esse segundo momento do período
capitalista-colonial, sob o domínio inglês, foi o que efetivou a
relação entre expansão e introdução de relações capitalistas
de produção pelo mundo afora, sendo o motivo principal, por
exemplo, do fim suposto da escravidão no Brasil em 13 de maio 1888.
Mas
onde entram as guerras inter-imperialistas? O argumento a ser
defendido, a respeito, é: o capitalismo foi colonial até a primeira
metade do século XIX, mas a partir desse período foi se tornando
gradativamente um capitalismo imperialista, reflexão realizada tendo
em vista o diálogo com o seguinte trecho de Imperialismo:
etapa final do capitalismo (1916), de Lênin: “Assim, pois, o
resumo da história dos monopólios é o seguinte: 1. 1860 a 1880,
ponto culminante no desenvolvimento da livre concorrência. Os
monopólios não constituem mais que germens apenas perceptíveis. 2.
Depois da crise de 1873, longo período de desenvolvimento dos
cartéis, que constituem, todavia, apenas exceção, não são ainda
sólidos e constituem um fenômeno apenas passageiro. 3. Auge do fim
do século XIX e crise de 1900 e 1903: os cartéis se convertem em
uma das bases de toda a vida econômica. 4. O capitalismo se
transformou em imperialismo” (LÊNIN, 2011, p.126-127).
Com
Lênin, a livre concorrência e, nesse sentido, o capitalismo, teria
atingido seu pico entre 1860 a 1880. Embora essa análise seja
objetiva, não seria inválido dizer que “a livre concorrência”
nunca ocorrera, de fato, porque “as veias abertas” do
colonialismo é que alimentavam esse apogeu histórico do capital. No
entanto, o fundamental nos períodos de transição do capitalismo
para o imperialismo, acima expostos pelo líder da revolução
soviética, é: trata-se da transição do capitalismo colonialista
para o capitalismo imperialista monopolista.
A
crise sistêmica de 1873 marca o começo do fim do período pandêmico
do capitalismo colonialista e sua mutação para o capitalismo
inter-imperialista. A hipótese objetiva para a necessidade
histórico-econômica desse deslocamento do capitalismo colonialista
para o inter-imperialista é: o fim da Companhia Inglesa das Índias
Orientais, em 1874, deu-se não porque acabara a concorrência no
interior do capitalismo, com o surgimento do capitalismo
monopólico-financeiro, mas porque este último pode ser analisado
como a expressão político-econômica da transformação das
Companhias Marítimas em cartéis e, ato contínuo, em monopólios.
Do
mesmo modo que a expansão marítima portuguesa e espanhola, na
primeira fase do período colonial, sofrera uma mutação importante
com o surgimento das Companhias Marítimas de Inglaterra, França e
Holanda, o advento do capitalismo inter-imperialista também se dera
em função da mutação pandêmica da segunda fase do período
colonial capitalista para a do capitalismo inter-imperialista. Não
se tratou, pois, do fim do período de concorrência, no âmbito do
capitalismo, mas de uma outra escala político-econômica para a
concorrência, a saber: a dos monopólios dos países que disputavam
entre si o “mercado externo” mundial.
Considerem,
a respeito, os argumentos de David Fildhouse. Em seu livro, Economia
e império. La expansión de Europa,
1830-1914 (1990), apresentou os seguintes dados objetivos: até 1830,
o sistema colonial europeu ocupava 35% da superfície da Terra; em
1878, passou a ocupar 78%; em 1914, início da Primeira Guerra
Mundial, 84,4% do planeta estava ocupado.
Em
1830, destacou Fildhouse (1990, p. 8), cinco potências europeias
disputavam o planeta; em 1914, por sua vez, eram dez, incluindo os
Estados Unidos, ocupando um papel de especial relevância. A mutação
da fase “capitalista das Companhias” para a fase
inter-imperialista tem a ver, pois, com o acirramento da concorrência
entre grandes potências, responsável por uma mutação interna no
“DNA” do capital, que se tornara ao mesmo tempo capital bancário
e industrial amalgamados.
Essa
expansão sem precedentes de estados capitalistas monopolistas, logo
imperialistas, motivou a emergência da Primeira e da Segunda Guerras
Mundiais. No caso da primeira, seu principal resultado foi: o fim de
três grandes impérios, o austro-húngaro, o otomano e o russo, com
a vitória, sobretudo, da versão anglo-saxônica, inglesa e
principalmente ianque, por ter conseguido, senão derrotar,
enfraquecer extremamente seus concorrentes diretos no saqueio dos
povos, inclusive a Inglaterra.
A
definição do imperialismo como capitalismo monopólico, soma de
capital bancário e capital industrial, foi especialmente
desenvolvida por Rudolf Hilferding, em O
capital financeiro, obra de 1910.
Não é suficiente, entretanto, pois duas outras determinações
político-econômicas estão presentes na fase inter-imperialista da
civilização burguesa, a saber: a análise feita por Lênin, em
Imperialismo:
etapa final do capitalismo (1916), em que o imperialismo é descrito
como uma superestrutura burocrática do capitalismo monopolista; a
análise de Karl Kautsky, em Ultraimperialismo,
texto de 1914, no qual, não obstante seus equívocos
interpretativos, como se verá mais adiante, sustentou a tese de que
o imperialismo se define como exportador de capitais para a periferia
do sistema, argumento que precisa ser, como tudo o mais, atualizado,
sobretudo considerando a fase atual.
A
história é conteúdo manifesto mas também ou antes de tudo é
conteúdo primário, para usar uma analogia freudiana. O sistema
colonial começa de fato com a expansão marítima sendo financiada
por banqueiros holandeses e venezianos. Nelson Werneck Sodré, em
obra citada, argumentara que o poder monárquico, na Idade Média,
foi durante muito tempo limitado pelos senhores feudais e que apenas
desacoplou destes quando se aliaram aos banqueiros do capital
usurário, como a rigor ocorrera com Portugal e Espanha, à época de
suas respectivas empresas marítimas coloniais.
Esse
capital bancário foi o conteúdo primário de todo o processo de
expansão da civilização burguesa. Foi determinante para a
emergência da expansão portuguesa e espanhola e também para a das
Companhias Marítimas das Índias Orientais e adquiriu autonomia e
força soberanas com a emergência da fase imperialista do
capitalismo, não sendo por acaso que Lênin, em Imperialismo:
etapa final do capitalismo, assim tenha se expressado a respeito: “A
superestrutura extraeconômica que se ergue sobre a base do capital
financeiro, a política e a ideologia deste, reforçam a tendência
para as conquistas coloniais” (LÊNIN, 2011, p. 211 ).
A
mutação virótica que a civilização burguesa sofreu, com a
emergência do modo de produção da fase inter-imperialista, pode
ser assim descrita: 1. É uma superestrutura extraeconômica; 2. Que
controla o capitalismo monopolista, expandindo-o; 3. Por meio da
exportação de capitais; 4. Abrindo, desse modo, os mercados
externos por meio de superestruturas burocráticas de Estados
monopólicos que concorrem entre si inevitavelmente por meio de
guerras mundiais.
4.
O período pandêmico do ultraimperialismo estadunidense.
“Ultraimperialismo”
é o título de um ensaio que Kautsky publicou em 1914, no qual
defendia que as guerras inter-imperialistas não poderiam durar para
sempre. A história concreta posterior mostrou que a sua teoria não
se sustentava, bastando considerar a Primeira Guerra Mundial e, ato
contínuo, a Segunda, além do keynesianismo bélico que tem sido o
motor da integração capitalista mundial desde o início da Guerra
Fria em 1947.
A
adoção da categoria ultraimperialismo, para definir o quarto
período pandêmico da civilização burguesa, de forma dialética,
tem a ver e não tem a ver com o citado teórico alemão. No primeiro
caso, está relacionada com o fato de Kautsky ter defendido que a
fase inter-imperialista engendraria uma integração econômica
mundial, lastreada na concentração de trustes, de modo que as
guerras perderiam a razão de ser. No segundo, há que destacar que a
integração capitalista entre as potências ocidentais, embora tenha
ocorrido, não levou à emergência econômico-política de um
período de paz consensuada. Foi justo o contrário que ocorrera, uma
vez que o saqueio colonial jamais deixou de existir, fomentando
guerras e golpes integrados e administrados pelos trustes dos
trustes, a saber: o Estado ianque e seu complexo
industrial-militar-cultural.
O
início do período expansionista do ultraimperialismo estadunidense
coincidiu com a fase inter-imperialista do capitalismo, motivada pela
grande depressão do final século XIX, período em que EUA contava
com uma vantagem competitiva fundamental, pois emergia como a
vanguarda das três grandes revoluções do capitalismo moderno: a
revolução corporativa, a revolução administrativa e a revolução
financeira, como destacaram Gérard Duménil e Dominique Lévy, em A
crise do neoliberalismo (1914,
p.22).
As
três revoluções referidas ocorreram conjuntamente, sob a
supervisão do Estado ultraimperialista ianque, em formação. De
posse de uma visão ao mesmo tempo objetiva, porque o país já era a
primeira economia mundial; e religiosa, em função do destino
manifesto que nela se expressa, a esse propósito, o estrategista
americano, Brooks Adams, em obra de 1900, America’s
economic supremacy, escrevera: “Se
os Estados Unidos estiverem destinados a cumprir as funções
realizadas pelas nações dominantes no passado, o mecanismo
administrativo correspondente será devidamente desenvolvido,
como os homens instalados para colocar essa maquinaria em ação” (
ADAMS, 1900, P. VII, tradução nossa).
Essa
maquinaria é o Estado ultraimperialista estadunidense, que emergiu,
ainda com Adams, levando em conta a seguinte perspectiva: “Se
a expansão e a concentração são necessárias, porque a
administração de maiores extensões é a menos dispendiosa, então
a América deve se expandir e concentrar até atingir o limite do
possível; pois governos são simplesmente grandes corporações em
competição, na qual o mais econômico, em relação à sua energia,
sobrevive, e os esbanjadores e lentos são desvalorizados e
eliminados” (ADAMS, 1900, p. 85, tradução nossa).
Esse
“até o limite do possível”, de que falou Adams no trecho
citado, relaciona-se com o uso do prefixo “ultra”, no sentido de
‘além de’, em função do desenvolvimento histórico da
modernidade estadunidense, que foi constituída de forma paralela à
modernidade europeia. Para desenvolver esse argumento, o diálogo
necessário será realizado com o filósofo equatoriano, Bolívar
Echeverría. Este, em Crítica de la
modernidad capitalista (2011),
evidenciou que a civilização burguesa não foi constituída
por meio de uma única modernidade, mas por pelo menos quatro, a
saber: 1. A católico-ibérica; 2. A protestante da Europa do norte,
que se tornou a dominante, no momento de expansão da fase
capitalista colonialista do capitalismo europeia; 3. A modernidade
barroca latino-americana e; 4. A modernidade protestante
estadunidense.
A
modernidade protestante do ultraimperialismo estadunidense se
constituiu como uma metamodernidade, pois, ao desenvolver-se de forma
paralela à europeia, aproveitou-se dos limites históricos desta
última, para superá-la e subsumi-la explorando três empecilhos que
limitaram a expansão da civilização burguesa propriamente
europeia, a saber: 1. O empecilho do período colonial; 2. O
empecilho imposto pela luta de classes no interior das principais
potências expansionistas da Europa; 2. O das guerras
interimperialistas.
O
primeiro obstáculo tem a ver com o fato de que a burguesia
estadunidense, herdeira em tudo da inglesa, nascera revolucionada,
sem precisar enfrentar a resistência feudal do primeiro período
pandêmico da Civilização Burguesa. O segundo, não menos
importante, está relacionado ao fato de que superestrutura estatal
do ultraimperialismo estadunidense se constituiu evitando,
preventivamente, que episódios revolucionários de luta de classes
ocorridos no interior da Europa, como a Revolução Popular de 1848;
e a Comuna de Paris de 1871, acontecessem também no interior dos
Estados Unidos.
Esse
segundo aspecto, relativamente à administração da luta de classes,
no caso da metamodernidade estadunidense, foi equacionado, em
processo, de duas maneiras: 1. Evitar a todo custo que a luta de
classes ocorra internamente, para que a reprodução ampliada do
capital pudesse ocorrer sem a resistência da classe operária; 2. O
uso tático e estratégico das lutas de classes que agitaram a
modernidade europeia para enfraquecê-la e superá-la, como o
capitalismo ultraimperialista hegemônico.
4.1.
A subsunção da luta de classes na modernidade ianque
Um
dos traços da dominação ianque é a atualização permanente do
excepcionalismo cultural-religioso como pretexto para usurpar,
expandir; usado, também, como dispositivo de poder para separar a
classe operária branca da negra. Ku Klux Klan, nesse sentido, não
foi a exceção, mas a regra. A white
supremacy, a ideologia
étnico-religiosa dominante, tornou-se a ideologia étnica dominante
da classe operária branca, ao mesmo tempo em que o puritanismo
calvinista, uma variação da mitologia do excepcionalismo, como
religião dominante, transformou-se na religião dominante da classe
operária negra.
A
famosa commonwealth anglo-saxã
adquiriu uma dimensão estrutural-institucional no interior da
superestrutura estatal do ultraimperialismo estadunidense. A esse
propósito, embora não trate diretamente dessa questão, o texto de
Jean-Paul Sartre, Individualismo e
conformismo nos Estados Unidos, é
revelador, ao destacar que na terra do Tio Sam: “formam-se
americanos” como se formam engenheiros, médicos e arquitetos
(SARTE, 2002, p.11).
O
excepcionalismo é o efeito religioso, nos corpos, desse “tornar-se
americano”, fundamentalmente de forma individualista e conformista.
E assim é, também, na perspectiva deste ensaio, o comunitarismo
puritano, modo de organização social da sociedade civil que na
prática dificulta tremendamente a luta de classes, seja porque
produz identidades de grupos endógenos, avessas ao encontro com as
identidades exógenas; seja porque diz respeito à predestinação
religiosa calvinista, absolutamente anti-histórica. E, como se sabe,
a luta de classes é sempre uma aposta na história, como construção
humana; e não como resultado de mistificação religiosa, ao estilo
“estava
escrito”.
Essa tecnologia ultraimperialista de subsunção da luta de classes,
descrita no parágrafo anterior, transformou o tornar-se americano em
um fenômeno biopolítico mundial.
Nesse
contexto, americanizar-se passou a ser a senha para ocultar as três
formas de luta de classes descritas por Domenico Losurdo em A
luta de classes: uma história
política e filosófica (2015), que são: a luta de classes clássica,
relativa à divisão entre capital e trabalho; a luta de classes que
ocorre no âmbito da divisão internacional do trabalho,
expressando-se sob a forma de racismo e de machismo, por exemplo; e a
luta de classes pela soberania nacional dos povos.
Um
momento fundamental dessa subsunção do operariado, realizada pela
burocracia do ultraimperialismo estadunidense, ocorreu tendo em vista
a luta de classes protagonizada por trabalhadores negros nos Estados
Unidos, no decorrer da década de sessenta, a partir da qual
lideranças como Malcolm X e Martin Luther King emergiram e foram,
ato contínuo, assassinadas no preciso momento em que associaram o
racismo à atuação mundial do imperialismo estadunidense, o que
significa dizer que foram eliminadas quando começavam a objetivar a
segunda forma de luta de classes acima mencionada; a da divisão
desigual internacional do trabalho, relacionando-a à intervenção
militar do ultraimperialismo interna e externamente.
Já
em 1900, Brooks Adams, no seu livro citado, chamava a atenção para
a relação entre expansão mundial estadunidense e a formação em
bloco de uma burocracia que fosse, (pressupõe-se, militar,
judiciária, acadêmica e cultural) tanto mais ousada quanto mais
atuasse mundialmente. Esse “atuar mundialmente”, no entanto, é
inseparável da intervenção interna. Exemplo disso foi a captura
que fizeram da luta de classe protagonizada pelos operários negros
da década de 60, seja transformando-a, com o apoio da estrutura de
fake news da
indústria cultural, em luta limitada à sociedade civil reificada;
seja, décadas depois, por meio da burocracia acadêmica, produzindo
versões teóricas, como o multiculturalismo, os estudos culturais, o
pós-colonialismo, que conformariam a commonwealth
da sociedade civil como o único
lugar possível da luta, doravante pelo reconhecimento, a partir de
uma ótica que se referencia na autoafirmação, como a do black
power, em um primeiro momento.
Um
aspecto raramente observado nessa dimensão afirmativa e civil das
lutas pelo reconhecimento se relaciona ao fato de que são
dispositivos biopolíticos implicados com a “escolarização” sem
fim do “tornar-se americano”, de modo que afirmar-se significa
antes de tudo um processo individual e conformista comprometido com o
“tornar-se americano”, como forma mercadoria da máquina
publicitária integral, que são diversos estilos ianques de ser.
Evidencia-se,
dessa forma, que a administração da luta de classes internamente
passou a ser um recurso oportuno para estendê-la para todo o
planeta. A ideologia do identitarismo, dominante entre as esquerdas
ocidentais, com sua plataforma biopolítica conformista e
individualista, pode ser analisada como uma variável mundial da
commonwealth do
destino manifesto do ultraimperialismo estadunidense.
4.2.
As lutas no interior da Europa e a metamodernidade estadunidense
A
subsunção da modernidade europeia, por meio da manipulação das
lutas de classes ocorridas no seu interior, detém três capítulos
importantes. O primeiro deles se deu por meio da conquista dos
despojos coloniais de Espanha e Portugal, com o avanço da Doutrina
Monroe de 1823, sobretudo após a usurpação de metade do território
mexicano, levada a cabo com a guerra de 1846 a 1848. Um exemplo
singular, a respeito, referencia-se em 1898, quando da guerra de
Espanha contra a luta independentista cubana, liderada por José
Martí.
Os
Estados Unidos, como grandes intrigueiros que são, fomentaram o
conflito pelos dois lados, saindo pela tangente, no processo, e
tomando para si Cuba, assumindo o lugar de Espanha no despojo
colonial. Situação semelhante ocorrera com o advento da Guerra
Filipino-Americana, de 1889 a 1902, que inaugurou a expansão ianque
pelo Pacífico.
O segundo momento da subsunção da modernidade europeia ocorreu no
período da Primeira Guerra Mundial. Sem participar da guerra, o
ultraimperialismo estadunidense foi o que mais se beneficiou com o
conflito em que todos os seus principais concorrentes
inter-imperialistas se destruíram, sobretudo a Alemanha, que fora
obrigada a assinar o humilhante Tratado de Versalhes. Não fosse a
Revolução Soviética de 1917, estaria aberto o caminho para os Estados
Unidos se apropriarem do “mercado externo” dos três grandes impérios
derrotados, ao término da guerra: o Austro-Húngaro, o Mongol e o Russo,
repetindo a façanha anterior de se apropriar dos despojos coloniais de
Espanha e Portugal, incluindo o Brasil.
4.3.
A cultura como meio de produção do ultraimperialismo estadunidense
Sempre
saindo pela tangente, com mais concentração de capital, ao ser a
única potência econômica que se desenvolvia sem participar
diretamente das guerras; e mais poderoso, porque expandia seu
“mercado externo” colonial para o planeta inteiro, o
ultraimperialismo estadunidense, após o fim da Segunda Guerra,
finalmente transformou a Doutrina Monroe em um fenômeno mundial,
pois, por não fazer fronteira nem a leste nem a oeste com
concorrente inter-imperialista algum, aproveitouse de suas condições
geográficas únicas, para administrar o momento certo de entrar na
guerra, impondo-se como o novo hegemon
da civilização burguesa, ao lançar
uma bomba atômica em Hiroshima e outra em
Nagasaki, quando a União Soviética já
havia derrotado o nazismo e Japão não representava perigo algum.
“O
mundo é dos americanos”, dizia Truman na Grécia destruída pela
guerra, em 1947. Antes, porém, em 1944, já havia sido realizada a
Conferência de Bretton Woods, que estabelecera o padrão ouro-dólar,
como referência da economia mundial, além de ter criado o FMI, o
Fundo Monetário Internacional, que cumpriria um papel fundamental
como exportador de capital de Wall Street, com a fachada de
neutralidade, por ser aparentemente uma “instituição
internacional”. Voltando um pouco antes no tempo, Truman lança
a Doutrina que recebera seu nome, por meio da Lei de Segurança
Nacional de 1947 – que criou ao mesmo tempo o Departamento de
Defesa, o Estado-Maior Unificado, o Conselho de Segurança Nacional e
a Agência Central de Inteligência, a CIA. Um ano mais tarde era
lançado o Plano Marshall de reconstrução de Europa. Em 1949,
efetiva-se de fato a submissão europeia, com a criação da OTAN, um
exército europeu, financiado por europeus, a serviço do novo campo
de batalha de Estados Unidos: a Guerra Fria contra a ex-União
Soviética.
Faltava
algo mais, para completar a façanha de uma potência que se
apresentava como o xerife do mundo da metamodernidade da modernidade
europeia, a saber: uma espécie e, para parafrasear Sartre, “escola
civilizacional integral de estilo de vidas”, desafiada a
americanizar a humanidade, agora em outra escala, como se
americanizam engenheiros, professores e até mesmo as esquerdas,
usando o princípio biopolítico do individualismo e do conformismo,
já experimentado para (con)formar os americanos à condição
puritana de americanos; essa permanente formação publicitária de
si mesmo.
Um
novo modo de produção emerge: a indústria cultural do
ultraimperialismo estadunidense. Em Literatura
e marxismo (1988), Raymond Williams,
um dos mais instigantes intelectuais da relação entre marxismo e
cultura, chamou a atenção, a propósito, para o fato de o marxismo
clássico ter negligenciado o lugar da cultura, observando: “[…]
as possibilidades plenas do conceito de cultura, considerado como um
processo social constitutivo, criador dos estilos de vida
específicos” (WILLIAMS, 1988, p. 3).
Esse
“processo social constitutivo” é o modo de produção mundial da
indústria cultural do ultraimperialismo ianque, que se tornou o
principal vetor de expansão estadunidense. Se uma das formas de
definir o imperialismo, na sua era inter-imperialista, era, “exporta
capitais”, o ultraimperialismo estadunidense exporta antes de tudo
estilos americanos de vida, fabricados pelos trustes de sua indústria
cultural, que não têm limites para moldar a “alma” humana como
se molda o design de
qualquer mercadoria, bastando editá-las ao infinito, porque sem
lastro na economia real, uma vez que o único lastro que realmente
importa para esse modo de produção sui generis é o lastro de Wall
Street nas imagens de rostos humanos em permanente processo de
americanização.
Se o desenvolvimento desigual e combinado, como mostrou Ruy Mauro Marini, em Dialética da dependência (1973),
no sistema de integração mundial do capital, está relacionado com uma
rígida hierarquia, administrada pelo imperialismo, entre mais-valor
absoluto e o mais-valor relativo (o primeiro implicado com
superexploração da classe operária, sobretudo nas periferias do sistema;
e o segundo com o desenvolvimento das forças produtivas), não seria
absurdo afirmar que o mais-valor relativo por excelência do
ultraimperialismo estadunidense está diretamente relacionado com o
desenvolvimento permanente das forças produtivas no interior da sua
indústria cultural.
Isso
não significa que prescinda do complexo industrial-militar. Pelo
contrário: a indústria cultural do ultraimperialismo ianque é a
sua mais importante arma e a sua mais importante, por paradoxal que
pareça, indústria de base, no sentido biopolítico do termo, porque
sem o ser humano não há sociedade, tampouco modo de produção. É
ela que molda a dimensão “ultra” de sua hegemonia, por meio de
tecnologias de edição virótica sem fim do passado da humanidade,
sobretudo tendo em vista o passado revolucionário, em que a luta de
classes, protagonizada pela classe operária, disputou epicamente os
rumos da civilização humana, como ocorreu sobretudo com as
revoluções soviéticas, chinesas, norte-coreana, vietnamita, cubana
do passado século; mas também quaisquer lutas de classes baseadas
na soberania nacional, que é proibida pela Doutrina Monroe/Truman.
Manter-se
na vanguarda do mais-valor relativo da cultura, compreendida como
modo de produção de estilos de vida, é uma questão de vida ou de
morte para o ultraimperialismo estadunidense, que dominou a era da
“TV aberta” e inaugurou a era das novas forças produtivas
relacionadas com as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação,
chamada por um de seus mais ilustres estrategistas, Brzezinski, em
Between two ages:
America’s roles in the technetronic era (1970), de era
tecnotrônica, hoje representada pelas cinco grandes empresas do
setor: Apple, Aphabet/Google, Facebook, Microsoft, Amazon, todas
financiadas pelo Estado ultraimperialista ianque, controlando
igualmente o Big Date,
Panóptico molecular que em tempo real detém informações sobre
quase a maioria esmagadora da humanidade, sem contar o controle de
projetos econômicos e técnico-científicos de países diversos.
Aliás,
falar que o Estado americano financia essas e outras Big
Dates é quase um truísmo, porque
as revoluções administrativa, a corporativa e a financeira – que
também se renovam, como forças produtivas – fazem parte de uma
mesma estrutura, que é ao mesmo tempo estatal e privada, sem
diferenças substanciais. Tudo funciona como um grande truste do
capital ultraimperialista, que é ao mesmo tempo colonialista,
capitalista e inter-imperialista.
Se
o ultraimperialismo estadunidense pode ser analisado como um up
ou um plus
em relação às três fases
precedentes da civilização burguesa, a emergência de Rússia, sob
ponto de vista militar; e de China, sob prisma econômico, evidenciam
um processo revolucionário sem precedentes na história humana, sob
o ponto de vista do mais-valor relativo, protagonizada por esses dois
grandes países que durante boa parte de suas histórias foram
colônias condenadas à superexploração do trabalho e, portanto, ao
mais-valor absoluto colonial.
A
vanguarda da China na tecnologia de 5G tem tudo para criar as
condições tecnológicas para que venha a se tornar a referência da
era da Internet das coisas, que está por se cotidianizar. Se não
for sobrepujada por um golpe ultraimperialista, isso significa que o
país de Mao Tsé-Tung será a nova força produtiva das Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação, liderando um processo de
Big date dos
Big dates dominados hoje por trustes da mal chamada “comunidade
global” do ultraimperialismo estadunidense.
Com
o tempo, de nada servirá mais a propriedade privada, exercida por
EUA, do domínio de IP e padrões de protocolo para o funcionamento
de rede. O projeto de Zbigniew Brzezinski, de os Estados Unidos
dominarem de ponta a ponta a Internet, para usá-la como uma rede de
pescar a humanidade inteira, que efetivamente está se realizando
hoje, sofrerá um revés sem precedentes, inclusive acumulando
inteligência administrativa para antecipar e bloquear revoluções
coloridas e golpes de Estado arquitetados por meio do uso de
Inteligência Artificial, que têm utilizado o Big Date, como ocorreu
nas Primaveras Árabes e no golpe que derrubou Dilma Rousseff no
Brasil.
Como assinalou Michel Foucault em Vigiar e punir, o poder
disciplinar se realiza por meio de uma estrutura panóptica igualmente
disciplinar. A emergência, no entanto, do ultraimperialismo
estadunidense subsumiu o sistema produtivo disciplinar precedente, que
teve a Segunda Revolução Industrial como eixo sísmico, pelas tecnologias
da sociedade do controle integrado, que tem no Big Date a sua principal forma panóptica, na atualidade; um Panóptico do tipo in/out, molecular, em que a dimensão in, que se efetiva estando no Big Date, é indiscernível de seu lado out, ao qual é possível chamar de Panóptico cosmológico, que se conecta ao primeiro por meio principalmente de satélites.
O
big date é
ao mesmo tempo a dimensão infra e ultra da forma panóptica in/out
da dominação estadunidense, essa
pandemia total, que incorpora e atualiza, em tempo real, as
anteriores, contaminando a humanidade em seu conjunto. A emergência
de China é a vacina que se objetiva, como nova força produtiva
lastreada na vida dos povos; e não na sua destruição.
Referência:
ADAMS,
Brooks. America’s economic
supremacy. New York: The Macmillan
Company, 1900.
BENJAMIN,
Walter. Magia, técnica, arte e
política: ensaios sobre literatura
e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7.ed. São
Paulo: Brasiliense:1994.
BOLÍVAR,
Echeverría. Crítica de la
modernidad capitalista. Bolívia:
Governo Plurinacional, 2011.
BRZEZINSKI,
Zbigniew. Between two ages –
America’s role in the Technetronic Era. New York:
The
Viking Press, 1970.
DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. A crise do neoliberalismo. Tradução Paulo Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014.
ENGELS, Friedrich. FIELDHOUSE. Economia e imperio. La expansión de Europa (1830-1914). Siglo XXI Ediciones: México, 1990. “Carta de Engels a Marx, de 19 de janeiro de 1870”. In. Marx y Engels. Acerca del colonialismo. Editorial Progreso: Moscu, S/D, p. 317-318.
FOUCAULT,
Michel. Vigiar e punir:
nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes,
1987.
KAUTSKY, Karl. “Ultraimperialismo”. (1914). In. Arquivo Marxista na
Internet.Disponívelem:https://www.marxists.org/portugues/kautsky/1914/09/11-1.htmAcesso
em: 8 Nov. 2009. Acesso em: 03 de Jun. de 2017.
SARTRE, Jean-Paul. Individualisme et conformisme aux Etats-Unis. In : Situations, III. Paris: Gallimard, 2003.
LÊNIN,
Vladimir. Imperialismo:
etapa final do capitalismo. Campina: Unicamp, 2011.
_____.
Marx-Engels-Marxisme.
Moscou:1946
LOSURDO,
Domenico. A luta de classes: uma história política e filosófica.
Trad. Silvia De Bernadinis. São Paulo: Boitempo, 2015.
LUXEMBURGO,
Rosa. La acumulacióndel capital.
México: Editora Glibaldo, 1967.
MARINI,
Ruy Mauro. “Dialética da dependência”. In: SADER, Emir.
Dialética da Dependência.
Petrópolis: Vozes, 1981.
MARX,
Karl. “La Companhia de las índias orientales. Su historia y
resultados”[1853].
In.
Marx y Engels. Acerca del
colonialismo. Editorial Progreso:
Moscu, S/D, p.44- 53.
O
capital. Livro I. Trad.Rubens
Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.
_____.
O 18 de Brumário de Luis Bonaparte.
Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011
MARX,
Karl. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto
comunista. Trad. Álvaro Pina e
Ivana Jinkings. São Paulo: Boitempo, 2010.
SCHMITT,
Carl. Teologia política.
Tradução; Francisco Javier Conde e Jorge Navarro Pérez. Madrid:
Editorial Trotta, 2009.
SOARES,
Luis Eustáquio. A sociedade do
controle integrado: Franz Kafka e
Guimarães Rosa. Vitória: Edufes, 2014.
_____.
O Ultraimperialismo americano e a
antropofagia matriarcal da literatura brasileira.
Vitória: PPGL, 2018.
SODRÉ,
Nelson Werneck. Formação histórica
do Brasil. Editora Brasiliense:
1983.
WILLIAMS,
Raymond. Marxismo y literatura.
Trad. Pablo diMasso. Barcelona: EdicionesPenísula, 1988.
Fonte Outras Palavras