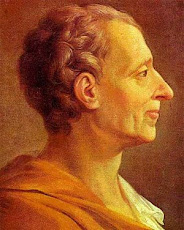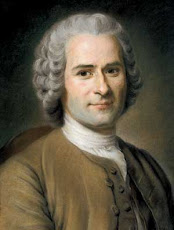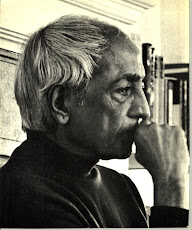Por Richard Sennett, no The Guardian | Tradução de Ricardo Cavalcanti-Schiel
Mesmo com a derrota de Donald Trump, sua base não o abandonará. Os bonés MAGA (“Make America Great Again”), jaquetas da marca Trump e decalques de coronha de arma tornaram-se símbolos preciosos para cerca de 30% dos norte-americanos. Eles acreditam ser donos da América “real”. Se a eleição der errado, para eles, essa base pode chegar a extremos na esperança de recuperar o terreno. Num país com mais de 300 milhões, pelo menos 30% das pessoas são um bando de extremistas.
A base de Trump está, em parte, buscando fazer valer sua “branquitude” como ferramenta política, na tentativa de transmitir uma pureza e uma integridade nostálgicas, tal qual a cor da pele. Excluir forasteiros ― como quando Trump chama os migrantes mexicanos de “estupradores” e “criminosos traiçoeiros” ― e segregar pessoas não brancas dentro do país são atitudes justificadas pelo mesmo motivo: ambos os alvos são considerados “corpos impuros”. Mas o racismo, por si só, não pode explicar o sadismo, a maldade deliberada da base trumpista com relação aos outros norte-americanos.
Essa base é atiçada por uma espécie de jogo perverso de soma zero, que faz com que as pessoas se sintam melhor consigo mesmas rebaixando os outros. No sentido contrário, reconhecer que os outros têm necessidades e direitos próprios soa como tirar essas necessidades e direitos de si mesmo. É esse jogo de soma zero que parece alimentar toda aquela hostilidade. Em última análise, é um jogo em que o jogador não pode vencer: derrubar os outros não pode tornar alguém, por si mesmo, mais forte. Mas a base trumpista parece padecer de algo como um vício em jogo. Ela quer se sentir melhor consigo mesma; não consegue; então continua jogando, na tentativa de converter a raiva e o desprezo em autoestima. E a frustração a leva cada vez mais para os extremos.
Cinquenta anos atrás, quando trabalhávamos no livro The hidden injuries of class (As feridas de classe ocultas. Nova York: Knopf, 1972 ― sem tradução para o português), Jonathan Cobb e eu vislumbramos as origens do jogo de soma zero em um reduto democrata branco da classe trabalhadora em Boston. Muitas dessas famílias, por necessidade, entraram em contato com pessoas muito diferentes durante a Segunda Guerra Mundial, no país e no exterior, e tinham compartilhado com elas um destino comum de insegurança durante a Grande Depressão. No entanto, essas memórias compartilhadas já tinham se enfraquecido na década de 70. Por então, algo parecia faltar, tanto em suas comunidades locais quanto em seus objetivos de vida. Essa ausência os deixava irritados; uma irritação com os outros, expressa na convicção de que as elites e as classes mais desfavorecidas, os programas sociais da Fundação Ford e os guetos estavam, na verdade, em conluio contra os norte-americanos trabalhadores e decentes como eles. E essa “solução” não ajudava em nada para os fazerem se sentir melhor.
O que antes podia ser enquadrado como uma questão de classe ― ou seja, como pessoas que ficaram para trás no boom econômico do pós-guerra ― agora é uma questão de massa, uma sensação de que algo deu errado, e que atinge os Estados Unidos de cima a baixo. Politicamente expresso, esse sentimento inflacionou a base trumpista na última eleição. Os eleitores de Trump eram uma mistura de aposentados, trabalhadores industriais, proprietários de pequenos negócios e prósperos suburbanos, incluindo uma fatia surpreendentemente grande de negros de classe média. Esses eleitores agora o estão abandonando; até mesmo muitos cristãos evangélicos parecem estar fartos.
Essa deserção alimenta o que há de mais assustador nessa base. “Traição” é a palavra que ela usa para explicar as coisas para si mesma, porque essa base parece estar perdendo o jogo: eles nunca contaram com Harvard, mas contavam com os militares, esse ícone da força americana. Então apareceu John McCain, e depois dele o desfile de ex-generais que tentaram colocar ordem na casa de Trump. Assim como McCain acabou rotulado como “perdedor”, o julgamento da Casa Branca sobre esses soldados foi o de que eles não estavam à altura do trabalho.
No mesmo sentido, médicos como Anthony Fauci estariam sabotando as pessoas para as quais usar máscara é um sinal de fraqueza, esquerdismo ou ambos. Generais e médicos são motivados pela missão. E missão é um conceito que está fora da órbita do jogo de soma zero, porque nele se dá aos outros, ao invés de tirar deles. Na linguagem de Trump, missão é coisa para otários.
Em outros países e em outras ocasiões, a ideia de traição alimentou o fogo da violência extremista. Após a primeira guerra mundial, a crença entre muitos alemães de que haviam sido internamente traídos legitimou as represálias nazistas contra os judeus e outros supostos inimigos internos. Mas nos Estados Unidos hoje, o tamanho da América “real” está encolhendo à medida que aumenta a lista daqueles que a teriam “vendido”.
Depois da eleição, o que me preocupa sobre a base trumpista é que ela mude seu foco para os teóricos da conspiração, para os vigilantes armados [como o BORTAC], para uma Klu Klux Klan renascida, porque a agressividade de tais grupos pode se parecer a uma garantia “confiável”. Afinal, perdendo Trump, a América dominante (“mainstream America”) terá se voltado contra aquela América pretensamente “real”. Se essa perspectiva parece por demais extrema, basta lembrar que em 2016 o senso comum dizia que alguém como Trump não poderia jamais ser eleito.
Na década de 70 eu acreditava que as feridas de classe ocultas poderiam ser curadas em parte por meio da interação local, face a face, entre pessoas diferentes. Essa esperança não faz sentido hoje. Perdi minha empatia pelas motivações complexas que inspiram o medo e a reação a ele. O mantra de “unir o país” perde qualquer significado à medida em que a base trumpista endurece e se desloca para a extrema direita. Em lugar disso, ela precisa, sim, ser responsabilizada pelas inclinações criminosas incentivadas por seu líder. Os Estados Unidos não vão se curar tão cedo.
Richard Sennett é professor de sociologia na London School of Economics e professor visitante de arquitetura na Universidade de Cambridge.
Fonte Outras Palavras
https://www.facebook.com/antoniocavalcantefilho.cavalcante
A TRAJETÓRIA DE VIDA E DE LUTA DO MEU CANDIDATO A VEREADOR POR CUIABÁ, PROFESSOR ROBINSON CIREIA.
“Minha Trajetória de vida e de luta!
Meu nome é Robinson Cireia de Oliveira, tenho 43 anos, sou professor de História na escola pública Dr. Alves Correa no Tijucal e sindicalista dirigente licenciado da CUT (Central Única dos Trabalhadores).
Lá no tijucal, trabalho e grupo de jovens.
Passei minha infância e juventude no bairro Tijucal. Para ajudar a minha mãe que era solteira tive que começar a trabalhar aos 13 anos. Desde muito cedo trabalhava o dia todo e estudava a noite.
Com 15 anos, passei a fazer parte de um grupo de jovens da Igreja Católica. Nesse grupo vi, pela primeira vez, jovens discutido comportamento, direitos humanos, fé e política.
Da solidariedade à luta de classes.
Na Pastoral da Juventude, a gente discutia e fazia campanhas solidárias. Meu cotidiano de enfrentamento das mazelas da classe trabalhadora me fez perceber que era preciso fazer ainda mais para ajudar o povo a se libertar. Foi quando resolvi me filiar ao PT e comecei a participar de uma luta política maior.
O caminho: pastoral, partido, movimento estudantil e sindical.
Desde jovem sou o cara do diálogo em grupo, mas também me tornei o cara das lutas na rua. Era estudante da UFMT quando integrei o Comitê de Luta pela Transporte Público (CLTP). Nosso objetivo era manter o passe livre estudantil e impedir o aumento da passagem de ônibus. Direitos ameaçados pelo então prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, foram combatidos com ocupações, atos e muita mobilização.
Sempre Nas Lutas.
Enquanto estudante universitário fiz parte do movimento estudantil e logo que me formei fui para o movimento sindical, participando da direção da CUT-MT.
De lá para cá, participei das mais importantes lutas sociais, em geral em defesa dos serviços públicos. Participei dos combates à privatização da Sanecap e do aumento do IPTU, contra privatização da saúde por meio OSs.
Estive sempre na defesa dos direitos dos servidores públicos, como nas lutas pelo PCCS em Cuiabá e pelo RGA do funcionalismo estadual. Seja como dirigente ou participante, o povo trabalhador contou comigo nas lutas contra as reformas trabalhista e previdenciária, e a emenda constitucional 95 de teto dos gastos.
Na educação, tenho orgulho de minha participação ativa na greve de 2013 que aprovou a lei 510 e o pagamento de hora atividade aos interinos.
O Professor na periferia.
Tenho muito orgulho de trabalhar como professor na Escola Estadual Dr. Estevão Alves Correa no Tijucal Setor II. Aprendi muito sendo professor e isso fortaleceu muito a minha luta em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Com os meus colegas de trabalho, enfrentamos todos os desafios e batalhamos para dar uma boa educação a meninos e meninas.
Mais e Melhores Serviços Públicos.
Hoje os governos, a mídia e os patrões atacam os serviços públicos. Na verdade tentam manipular a opinião pública atacando os servidores públicos e escondem os bilhões de isenções, renúncias e desonerações fiscais aos mais ricos. Atacam os servidores para dar dinheiro aos bilionários e cortam assim serviços públicos à população.
O mais recente ataque é a reforma administrativa, que mais uma vez, me mantenho no enfrentamento a esse que pode representar o fim do serviço do público”.