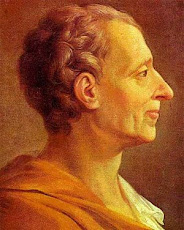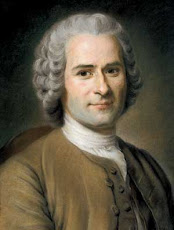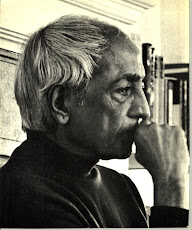Quando nem os fins nem os meios se justificam.
O autor deste texto publicado na Revista Espaço Acadêmico, é o professor do CEFET/SP, Valério Arcary. Ele é autor de As Esquinas Perigosas da História, situações revolucionárias em perspectiva marxista. Foi membro do Diretório Nacional do PT a partir de 1987, e da Executiva Nacional do PT a partir de 1989. Foi expulso do PT no processo de exclusão da Convergência Socialista em 1992. Mesmo tendo sido escrito em setembro de 2005 este artigo continua bem atual.
O dia em que o PT morreu: quando nem os fins nem os meios se justificam.
“O
fim justifica os meios? Essa
doutrina contraditória, psicologicamente inconcebível, foi
malignamente atribuída aos jesuítas pelos seus adversários
protestantes – e às vezes católicos – que, por sua vez,
pouco se preocupavam com escrúpulos na escolha dos meios para
atingir seus próprios"fins"
(...)
Por sua vez, os jesuítas, rivalizando com os protestantes,
adaptaram-se cada vez mais ao espírito da sociedade burguesa e
dos três votos – pobreza, castidade e obediência –
conservaram apenas o último, ainda assim de forma bastante
atenuada. Do ponto de vista do ideal cristão, a moral dos jesuítas
caiu tanto mais baixo quanto mais eles cessaram de ser jesuítas.
De guerrilheiros da Igreja passaram a ser burocratas e, como todos
os burocratas, uns pilantras de primeira.".
Leon
Trotsky[1]
Reler
os clássicos quando estamos diante de acontecimentos que sugerem
mudanças de dimensões históricas é uma das tradições da
esquerda que se perdeu, mas que devemos recuperar. A epígrafe de
Trotsky remete a dois dos temas candentes da conjuntura
brasileira: a relação entre os fins e os meios para uma estratégia
socialista, e os processos de adaptação social e deformação
política de organizações que se transformam no contrário do
que pretendiam ser quando constituídas.
Trotsky
admite que a Companhia de Jesus nasceu como uma resposta medieval
à Reforma Protestante, portanto, historicamente, reacionária,
porém, com o tempo, se adaptou às pressões sociais do
capitalismo. Os jesuítas, até para permanecer no Vaticano,
deixaram de ser jesuítas. O processo de evolução histórica do
PT chegou, também, a uma encruzilhada: para se credenciar como um
partido eleitoral resignado aos estreitos limites do regime democrático-liberal
no Brasil, ao longo dos vinte anos que nos separam do fim do
regime militar, o PT precisou deixar de ser petista. Renegar a sua
origem foi um processo de readequação política, mas, também,
de transformismo social, uma ruptura com as bases sociais de sua
constituição apoiado na CUT e no MST.
São
dois, também, os argumentos deste artigo. O primeiro é a
constatação inescapável, mas que encontra previsíveis resistências,
de que a crise do PT é terminal. O segundo é a defesa da luta
contra a corrupção como uma bandeira democrática incontornável
do programa da revolução brasileira, tema polêmico, portanto,
vital, para a reorganização sindical e política em curso, com o
colapso da CUT e do PT. Estas duas premissas se articulam para
defender que a esquerda anti-capitalista não pode hesitar diante
da luta para derrubar o governo Lula, convocando para manifestações
nas ruas, onde os setores de massas em ruptura com o PT poderão,
como cunhou Lênin, marchar “votando com os pés”.
Estamos
diante de uma nova etapa histórica. Afinal, já foram dez os
presidentes eleitos e derrubados na América Latina – por
mobilizações de massas operárias e populares, não por golpes
militares pró-americanos, como na seqüência da revolução
cubana - depois do fim dos anos oitenta, expressando a fragilidade
da democracia-liberal no continente. Não sabemos se os novos
ventos dos Andes já desceram a cordilheira. O desafio, no
entanto, está colocado: construir uma oposição de esquerda que
ofereça uma saída para a crise do PT, da CUT e da UNE, para
vencer a confusão e a prostração, que são a ante-sala do
grande perigo da desmoralização. O que nos devolverá à discussão
sobre os fins e os meios.
Capitalismo e corrupção
Recordemos,
para começo de conversa, o que a história e o marxismo nos
deixaram como fundamentos “graníticos” sobre a corrupção.
Nunca existiu capitalismo sem corrupção. Capital e Estado
estiveram sempre unidos através das mais variadas cumplicidades.
Desde o alvorecer das pioneiras Repúblicas italianas, quando a
Europa recuperou ao Islã o controle das lucrativas rotas
comerciais do Mediterrâneo, passando pela conquista da América
pelas Coroas ibéricas, sem esquecer os quase cento e cinqüenta
anos de disputa entre Londres e Paris pela supremacia no mercado
mundial: a corrupção estava lá, em todos os portos, em todos
tribunais, em todas as Cortes, em todas as línguas. A corrupção
nunca foi privilégio dos latinos, nem dos chineses, nem dos árabes.
Desde o século XIX falou, sobretudo, o latim moderno, o inglês.
Comprando favores, deslocando concorrentes, driblando as
leis, subornando autoridades, obtendo cargos. A força do dinheiro
abrindo as gavetas do poder, e o domínio do Estado favorecendo os
cofres da riqueza.
Quando
argumentamos que capitalismo e corrupção sempre caminharam de mãos
dadas, muitos nos perguntam se a corrupção não seria inevitável
em qualquer sociedade, porque, afinal, ninguém ignora que tanto
na URSS, quanto na China, as burocracias estatais se regozijavam
em privilégios driblando as suas próprias leis.
A corrupção não seria expressão das incoerências
sombrias da natureza humana? Os socialistas defendem que não
existe fatalismo na condição humana que nos condene a corrupção.
Assim como existiram sociedades que desconheceram a exploração
do homem pelo homem, ignoraram a corrupção. A corrupção é uma
doença econômico-social, e se explica em função de circunstâncias
históricas.
A
percepção de que, no Brasil, a apropriação privada do Estado
pelo mundo dos negócios teve sempre na sua raiz a impressionante
desigualdade econômica e social, é chave para mantermos o
sentido das proporções diante do colapso do PT. Ao se
transformar, a partir de 1988, em um partido que se credenciava
para a gestão do Estado sem ameaçar o capitalismo, o PT selou o
seu destino. Um programa de adaptação política a um capitalismo
que não cresce, em uma sociedade em que a desigualdade não deixa
de aumentar, e na qual a mobilidade social vem diminuindo há um
quarto de século, ou seja, um reformismo sem reformas, não
poderia evitar a degeneração metodológica e ética. Ensina a
sabedoria oriental que o peixe morre pela boca. Já o Padre
Antonio Vieira dizia que o peixe apodrece pela cabeça. O marxismo
alerta que a cabeça não é imune à pressão do chão que os pés
pisam.
O
PT escolheu um caminho de social democratização que já tinha
sido trilhado na América Latina por muitos outros, até por
organizações que encabeçaram revoluções democráticas, como
os sandinistas. Se, mesmo os partidos que se formaram na
severidade das condições da luta armada contra ditaduras –
como a FSLN, os Tupamaros ou a Farabundo Marti – quando
aceitaram se transformar em partidos eleitorais, se descobriram
vulneráveis diante da pressão política e social da democracia
liberal, parece inescapável que o PT, que já nasceu como um
partido eleitoral, seria presa fácil da corrupção endêmica do
Estado brasileiro. Era, no fundo, só uma questão de tempo, para
que o PT evoluísse do financiamento legal dos monopólios – em
prática desde 1994 - para um sistema de caixa dois – a exemplo
dos partidos tradicionais - e, depois, para a transferência de
recursos arrecadados para os partidos aliados, o sistema de mensalão
para assegurar maioria no Congresso, culminando com o
enriquecimento ilícito dos seus burocratas.
O
domínio do Capital sempre foi a associação legal e ou ilegal,
portanto, sempre ilegítima e imoral, da riqueza com o poder.
Todos os partidos comprometidos com o regime democrático-eleitoral
e, por isso, financiados pelo capital, foram aliciados, em todos
os tempos e lugares, pela força do dinheiro. Nos últimos cem
anos, à escala mundial, a imensa maioria dos instrumentos da
representação política dos trabalhadores, no centro ou na
periferia, quando se consolidaram regimes democráticos, foram
absorvidos pela pressão do eleitoralismo. A social democracia
européia antes da I guerra, ou os partidos eurocomunistas depois
dos anos 60, muito antes do PT, confirmaram que é difícil,
politicamente, e complexa, social e organizativamente, a construção
de reservas ou filtros de imunidade diante da pressão de forças
sociais hostis. Degeneraram, absorvendo além dos métodos do
eleitoralismo, os seus vícios. Seus dirigentes, fossem do SPD na
Alemanha e do Labour na Inglaterra, ou do PCF na França e do PCI
italiano, experimentaram, primeiro nos parlamentos, depois com o
ministerialismo, um processo de ascensão econômica e acomodação
social irrecuperável.
Adaptação política e
degeneração burocrática
Admitamos,
contudo, que os privilégios dos aparelhos social-democratas foram
a ante-sala de aberrações ainda mais graves. Não bastassem as
desprezíveis excentricidades da burocracia russa, como a coleção
de automóveis de Brejnev, ou a cômica sucessão de tipo monárquico,
em nome do socialismo, do regime totalitário na Coréia do Norte,
a esquerda do século XX viveu a degradação do assalto dos
sandinistas às mansões na Nicarágua. Pressões sociais em
sociedades desiguais nunca devem ser, portanto, subestimadas: os
que se deixam confundir politicamente, assimilam os métodos da
política burguesa – em que tudo são mercadorias, incluindo o
voto – e, finalmente, se rendem a um modo de vida de ostentação.
É o que confessam os principais líderes petistas quando, de
maneira até grotesca, invocam absolvição porque estavam agindo
de acordo com as “regras do jogo”.
Mas,
agora, o PT morreu. Morreu, comparativamente, como o estalinismo
morreu com a queda do muro de Berlim. Está acontecendo o que os
dialéticos denominam o salto de quantidade em qualidade. Quando o
publicitário que criou o Lulinha paz e amor confessou seus
pecados, ironia da história, enfiou uma adaga no coração do PT.
O enquadramento histórico parece incontornável, sob pena de
qualquer análise sucumbir aos impressionismos de conjuntura. Só
uma perspectiva mais ampla permitirá explicar como o partido político
que foi a expressão eleitoral do movimento operário sindical e
da maioria dos movimentos sociais brasileiros nos anos oitenta, se
transformou, a partir de sua mais alta direção,
irrecuperavelmente, neste espantoso amálgama de arrivistas e
vigaristas.
O
tema da burocratização dos partidos de trabalhadores
assalariados em sociedades urbanas permanece um fenômeno polêmico.
Ao analisar a socialdemocracia de cem anos atrás, Lenin recorreu
ao conceito de aristocracia operária para tentar explicar a
crescente diferenciação social no mundo do trabalho na passagem
do século XIX para o XX, e tentar compreender porque uma maioria
das bases sociais e eleitorais da socialdemocracia apoiou seus
respectivos governos, quando do início da guerra de 1914. No
entanto, é menos lembrado que Lenin previu que esse apoio seria
efêmero, mesmo entre os setores da classe trabalhadora que
obtiveram concessões na etapa histórica anterior. A
aristocratização de um segmento da classe operária era
compreendido pela esquerda marxista como um fenômeno,
essencialmente, econômico e social, enquanto o agigantamento do
aparelho sindical e das frações parlamentares absorvidos pelo
Estado, era discutido como um processo, essencialmente, político-social.
Aristocracia operária e burocracia operária não eram
identificados como o mesmo fenômeno social, porque a
aristocracia, um conceito relativo às condições materiais e
culturais de existência da classe trabalhadora de cada país.
Permanecia sendo um setor de classe, ainda que privilegiado,
enquanto a burocracia sindical e parlamentar dos aparelhos
socialdemocratas seria uma casta exterior ao proletariado. A
experiência do PT e da CUT é uma confirmação quase caricatural
deste prognóstico.
Crise terminal do PT e
enfraquecimento do governo Lula
Estamos
há dois meses diante de duas crises que, não sendo iguais,
correm paralelas e são indissociáveis: a crise terminal do PT e
a crise política do governo Lula. O PT, tal como foi nos últimos
vinte e cinco anos, não poderá resistir. Estamos acompanhando
uma revolução mental na cabeça de milhões de trabalhadores e
jovens, um processo de importância histórica. O PT poderá,
talvez, subsistir como um partido eleitoral, ainda assim, se
expulsar grande parte da sua direção histórica, mas nunca mais
poderá ocupar o papel que teve junto aos setores organizados das
classes trabalhadoras e aos movimentos sociais. Será um partido
eleitoral com outra base social. Enganam-se aqueles que subestimam
a atual crise do petismo. O desmoronamento da autoridade do PT –
em menor medida, do próprio Lula – que se aguentou na corda
bamba nos primeiros trinta meses de governo, mesmo se com uma política
anti-popular, tende a ser vertiginoso.
O
que não impede que as parcelas mais atrasadas, desinformadas e,
sobretudo, desorganizadas da população, aquelas que foram as últimas
a girar eleitoralmente para o apoio a Lula, possam continuar
exprimindo durante alguns meses, ou até mais tempo, intenção de
voto em Lula para 2006. Foram os últimos a se deslocar para o
apoio a Lula, porque nunca tiveram referência no PT ou, de resto,
em qualquer partido, e serão os últimos a romper. Esse processo
profundo e mais lento não será, contudo, relevante para o
destino do PT. O futuro do PT está sendo decidido nas grandes fábricas,
como nas montadoras e nas siderúrgicas, nas refinarias da Petrobrás,
nas Universidades, entre as classes médias de alta escolaridade e
baixos salários, enfim, nas grandes cidades e nos movimentos
sociais que sempre foram a sua retaguarda social.
Já
o governo Lula ainda não acabou – não se sustentava somente no
PT - embora esteja muito fragilizado. Dependeu nestes trinta meses
do apoio do imperialismo, da banca, das empreiteiras, da mídia,
enfim, das instituições, como o Congresso, o judiciário e as
FFAA, embora não fosse a opção preferencial da burguesia nas
eleições de 2002. A sua manutenção, mesmo se agônica, na
forma de um governo Palocci/Lula interessa às forças sociais e
políticas comprometidas com a preservação da ordem. Não
surpreende que estejam atarefadíssimas na articulação de um
“acordão” que poupe Lula - e o próprio congresso - de um
impeachment, da posse de Alencar ou de eleições antecipadas.
Entretanto, a crise permanece aberta. O Governo Lula/Dirceu/Palocci
dos últimos dois anos e meio não existe mais. O governo Lula
vive, por suposto, uma profunda crise política desde que se
precipitou a denúncia de que o PT teria transferido fundos para
os partidos de aluguel como o PL, PP e PTB, reconhecidas pelo próprio
Roberto Jefferson como mercenárias, e que lhe garantiram uma
maioria no Congresso Nacional, como aliás já faziam para o
governo FHC.
Não
é segredo para ninguém bem informado que há muitos anos, pelo
menos de 1994, o PT tem financiado as suas campanhas com milionárias
contribuições dos principais monopólios brasileiros. Mas,
apesar destas evidências, a direção do PT manteve a imagem de
sua integridade moral intacta diante da maioria de suas bases
sociais. Argumentava que aceitar o dinheiro das grandes corporações
era parte das “regras do jogo”, ou seja, que os fins
justificavam os meios.
As
denúncias do “mensalão” poderão ser, contudo, decisivas
para confirmar o que já se suspeitava há muito: (a) que o PT
mantém, também, a exemplo dos partidos burgueses, um caixa dois
para financiamento eleitoral; (b) que o PT, quando no Governo
federal – e por que não, quando nos estados e municípios? -
favoreceu empresas privadas, como as empreiteiras que concorrem
pelos contratos milionários de arrecadação de lixo, ou as
publicitárias, em licitações públicas; (c) que ocorreram desde
1988 dois processos simultâneos e indivisíveis: profissionalização
de um aparelho de vários milhares de quadros que fazem um rodízio
nacional pelos cargos de prefeituras e administrações estaduais,
associado ao enriquecimento ilícito de uma parte de sua direção.
A
questão decisiva para a esquerda anti-capitalista social e política
é ajudar a unir estas duas crises que correm em ritmos
diferentes: fazer que a perda de confiança na CUT e no PT se
transforme em ruptura política como o governo Lula. Ajudar os
milhões que formaram ao longo dos últimos vinte e cinco anos a
base social do petismo a ir além da tristeza e do desânimo, e
construir uma mobilização que traga um setor de massas, no início,
um setor mais avançado e, possivelmente, mais jovem, para as
ruas. O que não avança, retrocede. Já sabemos que, se não
houver pressão popular, a crise se resolverá por dentro das
instituições com algumas cassações de deputados - e com
algumas, poucas, expulsões do PT - e Lula procurará relocalizar
seu governo diante da burguesia prometendo a reforma política, a
sindical, e a jóia mais cobiçada de todas, a reforma
trabalhista.
Não
há porque temer a debilitação do governo e, se possível, a sua
derrubada. O governo Lula não é um governo de esquerda. Quem o
disse foi ninguém menos ... do que o próprio Lula. Praticou o
maior superávit de orçamento da história do país: até o fim
de 2005 transferirá mais de R$150 bilhões para os rentistas dos
juros da dívida interna, sacrificando a educação e a saúde pública.
Não há quem duvide que Serra não poderia ter feito a Reforma
anti-popular da Previdência que Lula fez. O governo Lula é um
governo socialmente burguês, economicamente neoliberal,
politicamente reacionário.
A
natureza do governo Lula alimentou, contudo, inúmeras confusões
na esquerda. O marxismo se distingue como corrente teórico-política,
justamente, pelo esforço de fazer caracterizações sociais dos
fenômenos políticos. Grande parte da intelectualidade petista, e
a esquerda do PT - o próprio MST - invocaram a fórmula elíptica
de um governo em disputa, um híbrido social. Mas, com o tempo,
ficou claro que a mão pesou demais. É muito razoável reconhecer
que todo governo pode ter uma ala esquerda, no sentido de que o
ministério pode ser heterogêneo, porém, finalmente, há uma dinâmica
que se impõe. O governo Lula não permite paralelo, por exemplo,
com o governo Chavez, que era o grande temor de uma parcela do
governo americano, tranqüilizada pela embaixadora de Washington
em Brasília.
O governo Chavez remete às experiências
do Governo Cárdenas no México dos anos trinta, e aos governos
Perón na Argentina e Vargas no Brasil, nos anos cinqüenta. Após
a crise de 1929, quando a supremacia inglesa já tinha sucumbido,
e uma nova hegemonia estava em aberto, uma vaga revolucionária
sacudiu a Europa – Espanha, França e Alemanha – e a crise
mundial favoreceu o surgimento de governos que buscavam uma margem
de maior autonomia no sistema mundial de Estados. Trotsky sugeriu
o conceito de semi-bonapartismo ou bonapartismo sui generis para
explicar o governo Cárdenas.
“Nos países industrialmente atrasados o capital
estrangeiro joga um papel decisivo. Por isso, a relativa
debilidade da burguesia nacional em relação ao proletariado
nacional. Isto cria
condições especiais para o poder estatal.O governo oscila entre
o capital estrangeiro e o capital nacional, entre a relativamente
débil burguesia nacional e o relativamente poderoso proletariado.
Isto dá ao governo um carácter bonapartista sui generis, de tipo
particular. O governo se eleva, para tentar descrevê-lo, por cima
das classes. Na realidade, pode governar convertendo-se em
instrumento do capital estrangeiro e submetendo o proletariado com
as cadeias de uma ditadura policial, ou manobrando com o
proletariado, chegando inclusive a fazer-lhe concessões, ganhando
deste modo a possibilidade de dispor de certa liberdade em relação
aos capitalistas estrangeiros.” (tradução nossa)[2]
O
conceito de bonapartismo é especialmente complexo porque
questiona a idéia simples de que haveria uma correspondência
direta entre as classes e o Estado. Surgiu no marxismo para tentar
explicar governos nos quais o Estado arbitrava entre diferentes
classes proprietárias, apoiando-se em setores não proprietários.
Napoleão III teria se apoiado no campesinato para isolar o
proletariado, e mobilizar sob a bandeira da unidade nacional a
favor do mundo das finanças, e Bismarck fez concessões ao
nascente proletariado, para manobrar contra a burguesia dos
principados ocidentais anexados a favor dos junkers do Leste.
Adaptado à experiência de um país semi-colonial, e reformulado
como semi-bonapartismo para definir o governo Cárdenas, que
suspendeu o pagamento da dívida externa, e realizou uma reforma
agrária, reconhecendo os ejidos – a posse de terras comunitárias
- procurava explicar o alcance de uma política nacionalista que
se apoiava nas classes populares, arbitrando novas condições com
o imperialismo, ainda nos limites do capitalismo.
Mas,
Lula não é Chavez, nem sequer um Cárdenas do início do século
XXI. Na política, como na vida, o que não se enfraquece, se
fortalece. O governo Lula só poderia se fortalecer, nas atuais
circunstâncias, se desse um giro à direita mais anti-popular,
abraçando o plano de um superávit nominal zero, ou seja, um
arrocho próximo a
10% do PIB para o pagamento dos juros. Um governo Lula/Delfim Neto
seria, no entanto, para os trabalhadores e o povo uma catástrofe
nacional. Um governo Lula mais fraco é, portanto, muito melhor
que um governo Lula forte. E, sendo possível mobilizar para
derrubá-lo, não haveria porque hesitar, mesmo se hoje não
podemos vislumbrar a possibilidade da luta direta pelo poder pelas
forças anti-capitalistas. Um governo Alencar seria ainda mais frágil.
Já a antecipação do calendário eleitoral exigiria um enorme
grau de improviso por parte da burguesia que não tem candidatos
fortes – tanto PSDB quanto PFL têm contas a explicar – e
diminuiria em muito as possibilidades de um PT reciclado com outro
candidato, abrindo espaço para uma recomposição da esquerda
sobre novas bases políticas e metodológicas. Uma candidatura de
esquerda socialista, construída tanto de baixo para cima pelo
sindicalismo classista, pelos ativistas independentes do movimento
popular e estudantil, quanto por uma articulação madura e
paciente do PSTU, PSOL e Consulta Popular com um programa
anti-imperialista e anti-capitalista, poderia ser o início de uma
nova etapa da esquerda, sobretudo, se forjada a partir de uma
experiência de frente única na luta contra o Governo Lula.
Tarefas democráticas e
revolução socialista
Muitos
socialistas honestos se perguntam se a denúncia da corrupção,
uma bandeira democrática, não deveria ser secundarizada porque,
afinal, a prioridade de uma política de esquerda precisaria ter
como identidade fundamental a apresentação, diante de todos os
grandes acontecimentos, de uma saída de classe, portanto,
anti-capitalista. Esta discussão tem duas dimensões, uma programática
e outra ética. A dimensão programática é a compreensão que o
programa da revolução socialista deve assumir, conscientemente,
tarefas democráticas.
A
revolução social anti-capitalista contemporânea tem sido um
processo de simultaneidade de várias revoluções. Sobre esta
questão programática existiram duas posições simétricas, no
passado, ambas equivocadas. A primeira e mais influente foi a do
PCB que defendia que, sendo o Brasil um país atrasado em relação
aos centros capitalistas, a revolução brasileira seria uma
revolução nacional e democrática, tendo como centro um programa
de industrialização e crescimento econômico. A etapa democrática
era apresentada em oposição a uma ruptura socialista e, por
isso, foram criticados, corretamente, como etapistas. Os sujeitos
sociais interessados nesse programa, segundo a direção liderada
por Prestes, seriam a burguesia industrial aliada às classes médias
urbanas. Ficava reservado aos trabalhadores e ao povo pobre da
cidade e do campo um papel de pressão sobre uma fração das
classes proprietárias contra outras, sacrificado sua independência
política. Esta elaboração explicava a seguidismo político do
PCB face ao governo Jango. A outra posição, que influenciou a
Polop, reconhecia que o Brasil era um país retardatário em que
as tarefas agrárias, de distribuição da propriedade da terra,
por exemplo, estavam pendentes, mas afirmava que, sendo o conflito
entre capital e trabalho o mais agudo e ordenador de todas as
outras lutas, a revolução brasileira seria socialista, ponto, e
o seu sujeito social seria o proletariado.
A
história provou que ambas estas elaborações eram unilaterais,
ou estavam diretamente erradas, mesmo se admitirmos, por justiça
intelectual, que a primeira se demonstrou mais equivocada. Nos países
periféricos como o Brasil, acompanhamos um processo de luta
social em que as tarefas democráticas, historicamente burguesas,
não puderam ser realizadas pelas classes proprietárias. Mas,
isso não significa que tenham perdido importância, e que não
haja uma revolução democrática por fazer, mesmo depois da queda
da ditadura há vinte anos atrás. Até hoje, o Brasil permanece
com uma espantosa concentração de terras em pouquíssimas mãos,
enquanto milhões não têm terra alguma. Até hoje, o Brasil
continua com uma inserção dependente no mercado mundial,
exportando capitais através do pagamento da dívida externa,
vendendo muito barato suas matérias-primas, e comprando caro
manufaturados e pagando fortunas de royalties. Até hoje, vivemos
em uma República que não é república, devorada pela corrupção
e pela impunidade, porque riqueza e poder se protegem,
reciprocamente, e a lei está muito longe de ser igual para todos.
Isto foi assim e permanecerá assim, porque as classes proprietárias
temem, acima de tudo, a mobilização independente das massas
trabalhadoras da cidade e do campo.
A
revolução brasileira será, portanto, um processo de
simultaneidade de várias revoluções, como tem acontecido, aliás,
nos últimos anos na América Latina. O “que se vayan todos”
da Argentina em 2001 e do Equador em 2005, expressava a
radicalidade democrática do programa que permitiu a aliança do
mundo do trabalho com as classes médias. O que pretendia
traduzir? As massas estavam votando com os pés, marchando aos
milhões, e dizendo que os políticos profissionais burgueses e
seus aliados reformistas não deveriam poder mais se candidatar.
Por isso, eram “escrachados” e desmoralizados, e não podiam
mais sair de casa.
Na
Bolívia, a bandeira de luta contra a violenta repressão que
deixou dezenas de mortos, e que levou à queda do “El Gringo”
Gonzalo de Losada em 2003, e a bandeira do “Gás é nosso”,
que levou á derrubada de Mesa em 2005, traduziam a união das
reivindicações nacionais anti-imperialistas com a justa ambição
democrática de justiça para a maioria da população que é indígena
e camponesa, e que sempre foram considerados pelos proprietários
descendentes de europeus, como bolivianos de segunda classe. Os
Fevereiros recorrentes latino-americanos desde 2000 – Equador em
2000 e 2005, Argentina em 2001, Venezuela em 2002 Bolívia em 2003
e 2005, as revoluções democráticas que permanecem incompletas,
que derrubam governo atrás de governo, mas não se colocam a
questão do poder, confirmam que processos de revolução
socialista, mesmo se partindo de níveis de consciência e
organização insatisfatórios, estão em marcha.
A
revolução brasileira não será diferente. Será um processo de
mobilização em permanência em que às bandeiras de luta
anticapitalista, como a nacionalização do sistema financeiro,
por exemplo, se unirão as bandeiras democráticas radicais como a
luta contra a corrupção, pelo fim dos sigilos bancários,
fiscais e telefônicos dos corruptos e corruptores, pela expropriação
de seus bens, pelo fim dos paraísos fiscais, etc... Será uma
revolução nacional contra o imperialismo, uma revolução agrária
contra o latifúndio, uma revolução democrática contra a corrupção,
uma revolução negra contra o racismo. Será, contudo, uma revolução
socialista, porque terá nos trabalhadores assalariados, a coluna
vertebral da aliança popular com as camadas médias, e não se
deterá diante da propriedade privada do capital. O fenômeno do
substitucionismo social já adquiriu formas incríveis - como
revoluções agrárias que se desdobram em socialistas como na
China - e preparemo-nos para novas surpresas: tarefas democráticas
elementares, até republicanas - como aprecia tanto a esquerda
petista - só poderão ser realizadas com métodos revolucionárias,
pelas classes que têm interesses anti-capitalistas. É a revolução
permanente.
Os fins e os meios
A
dimensão ética remete à relação entre os fins e os meios, que
injustiçou no passado remoto os jesuítas – e no século
passado os bolcheviques – e encontrou seus ecos no movimento
socialista. O debate sobre estratégia e tática, qualificando os
diferentes tempos da política, deu uma nova vida ao problema, na
medida que crescentemente, a maioria das correntes que se
reivindicaram socialistas no século XX, foram abandonando a
perspectiva anticapitalista, adotando diferentes variantes de
programas reformistas. Estabeleceram-se em relação ao tema,
grosso modo, três posições fundamentais na esquerda contemporânea,
embora com nuances intermediárias:
(a) a posição que defende que os fins justificam os meios. Os seus defensores argumentaram que, ao final, com a perspectiva do tempo, seriam absolvidos. As sociais democracias francesa e alemã justificaram os genocídios da Primeira Guerra, esgrimindo que agiam em cumplicidade com suas classes dominantes, em nome da defesa da pátria. O estalinismo não hesitou, por exemplo, em defender até o pacto Ribbentrop/Molotov, ou seja, aceitou um acordo diplomático com o nazismo que não impediu que, dois anos depois, a URSS fosse invadida por uma Alemanha imensamente fortalecida. Os “realistas” se esquecem, porém, que meios indignos distanciam ou até comprometem os fins, porque os fins precisam, também, ser permanentemente, reafirmados, confirmados e justificados. Cometem, em nome do realismo político, o erro simétrico dos moralistas. Mas, dividem com eles o critério absurdo de que meios e fins independem uns dos outros;(b) a posição dos moralistas que os meios são tudo, e os fins, nada. Afirmada, originalmente, pelo reformismo “a la Bernstein”, virou uma coqueluche internacional com o crescimento dos Forums Sociais Mundiais e a popularidade das ONG’s. A estratégia da luta se esgotaria na tática, esvaziando a política de invenção. Porque tudo são táticas que, erraticamente, se sucedem. Não há horizontes, não há projetos, não há programas. A política fica reduzida ao tempo do presente. A dimensão utópica do combate socialista, que só pode adquirir significado na revolução mundial, se perde. A história, de processo de vir a ser, passa a ser um eterno presente, comprometendo, portanto, uma perspectiva de luta pelo poder. Esta posição aparece, freqüentemente, camuflada com o argumento empirista de que o caminho se constrói caminhando, cuja conseqüência é a absolutização de critérios morais imperativos e universais. No limite, consiste em uma subordinação da política à moral, uma versão que pode ser mais ou menos laicizada (sob a forma de valores ahistóricos da “natureza humana”). Remete, em última análise, ao princípio teológico de que a moral independe da história, portanto, da sociedade e dos conflitos de classe no seu interior. Sendo os imperativos categóricos kantianos inaplicáveis, tanto sob as pressões da vida cotidiana, quanto na arena das lutas de classes quando esta se exacerba, os valores morais universais passam a ser um princípio sagrado irrevogável, porém inútil;(c) a posição que defende que os meios e os fins têm entre si uma relação indissolúvel e, em uma sociedade dividida, o combate político é também um combate moral. Só seriam admissíveis, portanto, aqueles meios que estejam ao serviço da supressão do poder de uma minoria sobre a maioria: os meios que inflamam a indignação dos oprimidos, que exaltam a sua união e confiança em si mesmos, que confirmam a justeza de suas lutas. Obrigatório concluir que nem todos os meios são permissíveis. Devem ser condenados como indignos, por exemplo, todos os procedimentos que alimentem ilusões nos inimigos de classe e desconfiança entre os trabalhadores; os métodos dos burocratas que trocam confidências com os patrões e mentem, descaradamente, para as suas bases; os artifícios dos que lançam um setor do povo oprimido contra outros; ou que estimulem o seguidismo cego dos chefes; e, acima de tudo, o repugnante servilismo diante das autoridades, e o correspondente desprezo pela juventude e os explorados e suas opiniões; mas, reconhece, também, que não existe um catecismo que defina como mandamentos o que é consentido, e o que é impensável.
[1][1] TROTSKY, Leon. Moral e Revolução: a nossa moral e a deles. 2ª ed. Rio
de Janeiro, Paz e Terra. p. 9/11.
[2][2] TROTSKY, León. “La industria nacionalizada y la
administración obrera” in ____ Escritos latinoamericanos, 2ª edição. Buenos Aires: Centro de
Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky (CEIP León Trotsky),
2000,, pp.163-164. O tema dos
governos Cárdenas, Perón e Vargas, entre outros, analisados como populistas por
alguns autores como Ianni e Weffort, ou bonapartistas sui generis pela tradição
inspirada em Trotsky, é estudado por Felipe Demier em uma comunicação ao III
Colóquio Marx-Engels do CEMARX da Unicamp que será publicada na Revista Outubro
13, a quem agradecemos pela citação que inspirou este trecho do presente
artigo.
Fonte Revista Espaço Acadêmico
Visite a pagina do MCCE-MT