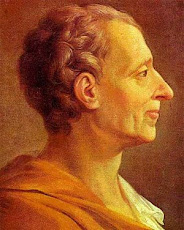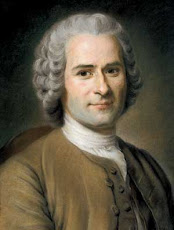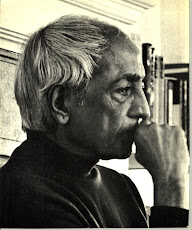A dominação social deste século só sobreviverá se criar novos sujeitos. Sociedades, onde os diferentes se relacionam, precisam ser reduzidas a massas inertes de indivíduos-dados. Esta distopia é, também, o calcanhar de aquiles do projeto
Por Boaventura de Sousa Santos | Imagem: Andrzej Krauze
A combinação tóxica entre capitalismo, colonialismo e patriarcado que
caracteriza este início de século, longe de ser apenas uma dominação
tricéfala particularmente virulenta nos modos de exploração e de
discriminação que privilegia, está assumindo a dimensão de um novo
modelo civilizatório, uma nova era que, muito além de desfigurar as
instituições, as representações e as ideologias preexistentes, propõe-se
criar novas subjetividades para quem o novo modelo é o único modo
imaginável de vida. É um processo em construção e obviamente só se
consolidará se não houver resistência eficaz. Para que tal resistência
ocorra é necessário fazer um diagnóstico radical do que está em causa.
Como qualquer outro processo histórico, tem uma longa e sinuosa
evolução. Sendo uma evolução civilizacional, contou com cumplicidades de
forças ideológica e politicamente muito díspares. Foram essas
conivências que tornaram possível o consenso de que o processo era
irreversível e não havia alternativa.
Podemos
ver hoje as principais fases por que foi avançando. A primeira fase consistiu
numa crítica radical do Estado e na afirmação da sociedade civil como única
fonte de virtude e de eficácia. A sociedade civil forte, que antes era a outra
face do Estado democraticamente forte, passou a ser o oposto do Estado forte e,
por isso, só possível se o Estado fosse fraco. Numa segunda fase, uma vez
neutralizado o Estado, a sociedade passou a ser questionada em nome da
autonomia do indivíduo. Ou seja, começou por virar a sociedade contra o Estado
para depois virar o indivíduo autônomo contra a sociedade. Mas a autonomia que
proclama é uma autonomia uberizada, isto é, a autonomia de indivíduos que não
têm condições para ser autônomos. A autonomia da auto-escravatura.
O
objetivo deste modelo civilizacional é substituir o conceito de
responsabilidade social pelo conceito de culpa. Os problemas que isso pode
suscitar não são problemas políticos. São problemas de polícia ou de terapia.
Estamos às portas de uma era não relacional em que os atributos que definem
grupos de população são naturalizados e separados entre si de modo a não ser
visível a relação que há entre eles. Criam-se assim segregações que não se
tomam como tal e antes parecem o resultado natural de diferenças que não suscitam
outro sentimento que não o da indiferença.
Assim, diferenças e hierarquias, que até há pouco eram consideradas
chocantes e revoltantes, tendem hoje a ser percebidas como triviais e até
aceitáveis porque expressão de características inatas em relação às quais a
sociedade pouco pode fazer. Por exemplo, a concentração da riqueza aumentou
escandalosamente nas últimas quatro décadas e a ostentação da riqueza convive
indiferentemente com a mais abjeta pobreza. Por sua vez, as discriminações por
motivos raciais, sexuais, religiosos ou outros ganham crescente aceitação entre
públicos insensíveis às lutas dos movimentos anti-racistas, anti-sexistas,
anti-homofóbicos, anti-fundamentalistas, os mesmos públicos que estão sempre
disponíveis para ignorar ativamente as conquistas contra a discriminação que
esses movimentos têm obtido. Assim, quem é rico merece ser rico porque tem as
qualidades para o ser, tal como quem é pobre merece ser pobre por não ter as
qualidades necessárias para deixar de o ser. Na construção deste modelo
civilizatório estão envolvidos vários processos. Muitos dos quais parecem nada
ter a ver com ele.
1.
Do conhecimento à informação. O
novo modelo civilizatório assenta na produção aparentemente ilimitada de
informação e na confusão entre informação e conhecimento. É cada vez mais comum
a ideia de que vivemos numa sociedade de informação. A abundância de informação
não é um bem incondicional. Lembremos que em caso de inundação o recurso mais
escasso é água potável. Semelhantemente, vivemos hoje inundados por informação,
mas carecemos cada vez mais de informação potável, isto é, confiável. Por outro
lado, informação não é conhecimento (qualquer que seja o tipo de conhecimento).
A informação fornece dados, enquanto o conhecimento visa compreender ou explicar
a origem, o significado e as implicações dos dados. A informação é o presente
simultaneamente eterno e efêmero, enquanto o conhecimento é a ponte entre o
passado, o presente e o futuro. Estas diferenças tornam-se cada vez menos
evidentes quando, para sonho de uns e pesadelo de outros, parece próximo o
tempo em que um supercomputador desvendará o segredo da vida e do universo ao
prever a estrutura tridimensional das proteínas em todas as suas (infinitas)
sequências. E, não por acaso, a mais poderosa biomáquina, um ícone exemplar da
inteligência artificial, chama-se Mente Profunda (deep mind) e os seus processos designam-se como tecnologia de
aprendizagem profunda. A verdade é que, mesmo que tal seja possível, a máquina
nunca poderá explicar ou entender os resultados a que chegar. Mas para o novo
modelo civilizatório o significado dos dados está cada vez mais reduzido à
utilidade econômica que eles possam ter para quem os detenha.
2.
Das relações sociais aos dados.
A confusão entre conhecimento e informação é fundamental para ocultar ou
trivializar as relações sociais e as desigualdades de poder que estão por
detrás dos dados. As formas de dominação modernas reproduzem-se por via da
extração de recursos assente em relações de poder desigual que tornam possíveis
decisões unilaterais e a apropriação indevida de valor. Historicamente, essa
extração teve duas formas principais: os recursos naturais (a exploração da
natureza) e os recursos humanos (de que o trabalho escravo é a forma mais
brutal). Hoje, a estas duas formas juntam-se uma terceira: a extração de dados.
Esta extração é cada vez mais massiva em função da imensa agregação de dados
tornada possível pelas novas tecnologias de informação e comunicação, os big
data. Aliás, a obtenção destes dados tem a mesma designação que o
extrativismo mineiro: escavação de dados (data digging). O próprio termo
“dados” contém em si toda a ambivalência da armadilha digital. Os dados são
efetivamente roubados; mas, depois de manipulados e vendidos a utilizadores
comerciais ou políticos, são devolvidos ao público como sendo oferecidos e, de
fato, propriedade comum. O país com o maior número de utilizadores do facebook
é a Índia, mas os centros de dados obtidos por este meio estão localizados nos
EUA, na Europa e em Singapura. A apropriação do valor dos dados está
concentrada numa empresa, mas quem é que se sente ao serviço de uma empresa
quando o uso, a entrada e a saída da empresa são livres?
A
manipulação destes dados por parte das grandes empresas de comunicação eletrônica
é a grande responsável pela progressiva substituição das relações sociais pelos
dados enquanto explicação, fundamento, sentido e valorização da vida coletiva.
Os dados são obtidos por instrumentos tecnológicos cujos parâmetros e critérios
não são do domínio público por estarem protegidos por patentes. Esta opacidade
é a condição essencial da suposta transparência dos dados e, portanto, da sua
utilização aparentemente neutra. A sociedade métrica em que estamos a entrar
visa transformar o caráter relacional da vida social em desempenhos individuais
quantificados e sem outra relação entre si senão as diferenças numéricas e as
agregações que são feitas a partir delas. Tudo o que não é quantificável é
desqualificado mesmo que seja a felicidade ou sentido da vida e da morte.
3.
Da política à polícia e à terapia.
As relações sociais e as desigualdades de poder que podem explicar os dados
deixam de ser visíveis e relevantes enquanto causas. São tratadas quando muito
como consequências. Os conflitos que fatalmente geram são despolitizados.
Passam a ser assunto de polícia e nisso consiste a criminalização crescente do
protesto social. Em alternativa, são temas para terapia contra a depressão, a
alienação, a fadiga crônica, o impulso suicidário. A terapia permite que
indivíduos solitários não se sintam sós. Fazem parte de comunidades imaginadas
de consumidores de ansiolíticos, de álcool, de drogas, de medicinas
alternativas, de academias de prontidão física, de meditação. São coletivos de
partilha de destino sem esperança ou cuja esperança reside em perder o medo de
viver sem ela.
4.
Das redes à solidão coletiva.
Os big data não visam individualmente os indivíduos (passe o pleonasmo);
visam coletivos homogêneos de indivíduos, organizados invisivelmente segundo os
seus gostos de consumo, de política ou de religião. Desta forma, os big data
permitem combinar a máxima personalização com a máxima massificação. Os
indivíduos, longe se sentirem sós ou isolados, sentem-se auto-escolhidos por
grupos mais ou menos vastos com quem não têm outras relações senão as que a
internet permite. As redes sociais são a expressão mais acabada da nova
solidão, a pertença superficial, seletiva, isenta de compromissos
extra-comunicacionais a colecivos cada vez mais organizados pelo mercado comercial,
político ou religioso dos big data. Claro que as redes sociais também
permitem intensificar a comunicação que começou por ser física e presencial,
mas do ponto de vista dos big data a única dimensão comunicacional que
conta é a digital. E é mesmo crucial que entre o indivíduo massivamente
personalizado e o objeto de consumo não existam intermediários. O indivíduo tem
à sua disposição um mundo que considera feito por si, apesar de ter sido feito
por outros, e que pensa ser seu, apesar de ser propriedade, muitas vezes
patenteada, de outros.
5.
Do pensamento crítico à peritagem. O
estudo crítico, livre e independente das assimetrias sociais não é bem-vindo
neste mundo da sociedade métrica. Os dados são “tratados” por especialistas que
aparentemente não têm nenhuma lealdade ou preferência senão a que se espelha
nos dados. São considerados objetivos por serem tidos por neutros e não por
serem conhecidos os critérios e os métodos que mobilizam as suas análises.
Enquanto no caso do liberalismo científico a neutralidade (que, de fato, nunca
existiu) era o resultado da aplicação de metodologias que garantiam a
objetividade, na ação dos especialistas a objetividade é o resultado da suposta
neutralidade. O especialista é o juiz sempre parcial na farsa da imparcialidade
da era não-relacional.
Este
tipo de especialização é um híbrido entre informação e conhecimento, e
traduz-se em análises e relatórios preparados por encomenda de quem tem
interesse em que os dados sustentem certas conclusões, e não outras. Este híbrido
dificilmente pode ser produzido nas universidades e centros de investigação,
pelo menos enquanto umas e outros se pautarem pelo princípio de que o valor do
conhecimento nunca é redutível ao valor de mercado que possa ter ou não ter.
Não admira, pois, que a ação dos especialistas seja cada vez mais um monopólio
de empresas de consultoria. Estas empresas nunca podem oferecer conclusões
desconfortantes para os clientes e nunca podem prever os piores cenários sob
pena de os seus próprios acionistas as desertarem. Foi por isso que nenhuma
dela previu a crise financeira de 2008 nem preverá qualquer crise futura. Na
era dos coletivos de solidão, a consultoria é a voz dos poderes que criam os
coletivos e o silenciamento dos indivíduos coletivamente solitários.